EM PORTUGUÊS















O VERDADEIRO VALOR DO ANEL




Estava todo contente: iria voltar a ver a menina! Mas quando, a sorrir, abriu a porta do elevador, só encontrou alguns vizinhos … que lhe sorriram, hesitantes. A menina já lá não estava e nunca mais a viu…
Só tinha ficado aquela sensação agradável de formigueiro.
E a menina?
Ora bem, caso alguma vez a encontres no elevador, já sabes…

Ninguém sabe dizer o que aconteceu com Kákua, depois que ele deixou o Palácio Imperial.
Diz a história que Kákua foi o primeiro japonês que estudou Budismo Zen na China.
Nunca viajou; meditava apenas.
Sempre que o encontravam, pediam-lhe que saísse a pregar. Mas ele dizia meia dúzia de palavras e desaparecia para outro ponto da floresta, tornando-se mais difícil encontrá-lo.
Um dia, tendo voltado ao Japão, o Imperador pediu-lhe que pregasse o Budismo Zen a ele próprio e a toda a sua corte.
Kákua ficou de pé, muito calado, diante do Imperador, depois de ouvi-lo; tirou das dobras do seu manto uma flauta que ali tinha escondida e soprou nela apenas uma nota. Inclinou-se, depois, profundamente, em saudação ao Imperador e foi-se embora.
Eis o que diz Confúcio: “Não ensinar um homem já maduro é desperdiçar o homem. Ensinar um homem ainda não maduro é desperdiçar palavras.”

AS MULHERES DO PÁTIO

O PAI DE ANDI





O NATAL DE NATALINA

Estamos em dezembro.
Dezembro é o nome do último mês
do ano. Os outros meses chamam-se:
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
Ei! Tantos! Quase fiquei cansada.
E escrevi-os de seguida, sem me enganar.
Parecem soldadinhos, em fila,
todos direitos.
Na minha casa, o mês mais
importante é dezembro porque foi quando eu nasci. E como era o tempo do Natal,
a minha avó quis que eu me chamasse Natalina. Assim festejamos duas coisas
importantes: os meus anos e os do Menino Jesus.
Fazer anos é bom: fica-se mais
alto e recebem-se muitas prendas.
O ano passado deram-me uma
camisola, seis livros, uma caixa de lápis, grande, um batom e um verniz para as
unhas, a fingir, para quando brinco às senhoras crescidas. O vizinho Manuel, da
frutaria, deu-me uma laranja. Foi a prenda de que mais gostei. Era tão grande
que parecia o sol. Eu nunca tinha visto uma laranja assim: a casca lisa, muito
brilhante. Quando já ia descascá-la pareceu-me que alguém me chamava. Olhei na
direção do presépio, pois a voz era dali que vinha.
Deitado nas palhinhas, de braços
abertos, o Menino Jesus lá estava, com aquela tão poucochinha roupa que fazia
frio só de olhar. E esta, hein!, pensei eu de repente, como se me tivessem dado
uma pancada dentro do peito. Festas daqui, prendas dali, embrulhos, laços,
Natal nas montras, Natal na televisão, Natal, Natal nas pressas de toda a gente
e não é que também na minha casa ainda ninguém se lembrou que, além de mim,
Natalina, este Jesus, nu, descalço, deitado em palhinhas duras também fez anos
e, como todas as crianças, há de gostar de uma prenda?!...
Olhei a laranja.
Peguei nela e, devagar, fui
colocá-la nas suas mãozitas abertas que pareciam mesmo estar à espera de um
sinal de amor.
De repente, que veem os meus
olhos?
A laranja começa a encher-se de
luz. Tanta luz. Parecia uma laranja de vidro. E na luz e claridade dessa bola
mágica, viam-se os rios e os mares; as terras de África e as terras da América;
os meninos negros e os meninos índios; os meninos de Moçambique a dizerem
“tá-tá” como quem diz adeus e os meninos de Timor a rezarem em português.
Também se viam as grandes neves e os grandes desertos e as estrelas a
deslocarem-se depressa num céu de muitas cores como nos filmes de ficção
científica.
Eu nem queria acreditar no que me
estava a acontecer e o meu coração parecia um passarinho com susto.
Quando aquele filme acabou olhei
muito séria para Jesus. E Ele sorria. Sorria-me.
O sorriso dele era mais morno que
o sol, mais fofinho que a camisola nova.
E foi assim, com este segredo de
sumo e luz que eu, Natalina, vi coisas de conto de fadas e ganhei um amigo para
sempre.
Depois desse dia, dezembro ainda
ficou mais importante.
E só por causa de uma laranja.
Maria Rosa Colaço
In Boletim Cultural
Fundação Calouste Gulbenkian
VII série,
dezembro 1991
HISTÓRIA DO CÃO CORAJOSO

O gelo fazia lembrar punhais pendentes das goteiras
diante da janela do meu quarto, naquele dia de inverno de 1998 em que vi Fritzy
pela primeira vez.
Nessa manhã, o nosso carro passou por campos de milho
gelados e ribeiros em direção ao canil municipal. Íamos buscar um cão.
Colei o nariz ao vidro do carro, soprei sobre o vidro
frio e interroguei-me como seria o nosso futuro cão.
Daria a pata, rolar-se-ia no chão, correria atrás dos
esquilos?
Cada campo que deixávamos para trás aproximava-me da
concretização do meu maior desejo: ter um cão.
No canil, o barulho era infernal, ensurdecedor. Perguntava-me
como faríamos para escolher um cão naquele caos canino.
Depois, no meio do tumulto, o seu silêncio chamou-me
a atenção. Estava sentado, calmo e confiante, ao canto, numa jaula,
aparentemente indiferente ao barulho que o rodeava.
Quando me aproximei, passou a pata pela grade e eu
peguei nela. Um cartaz por cima da jaula dizia “Pastor Escocês”.
Encostou o focinho à porta e eu fiz-lhe festas na
cabeça. Dez minutos depois, ei-lo sentado no banco de trás do nosso carro.
— Vai chamar-se Fritzy — disse a minha avó, enquanto
o observávamos a devorar a sua primeira refeição. — O nome do primeiro cão do
teu pai.
E foi assim que foi batizado.
Fritzy adaptou-se rapidamente à vida da nossa casinha
de montanha. Quando chegavam convidados, vinha cá fora recebê-los. Quando os
convidados iam dar um passeio de tarde, acompanhava-os cheio de alegria.
Os serviços de acompanhamento de Fritzy tornaram-se
tão populares que o meu pai teve de arranjar uma folha de reservas para
responder aos pedidos de todos os caminhantes que disputavam a sua companhia.
Cinco anos mais tarde, quando vendemos a casa de
campo e nos mudámos para a cidade, Fritzy passou a desfrutar de uma reforma
tranquila. O ponto culminante do seu dia era quando eu transpunha a porta de
casa ao regressar da escola. Corria, deslizava sobre os mosaicos da entrada, e
saltava para os meus braços como se acabasse de ganhar a lotaria canina.
Numa sexta-feira de tarde, o meu pai anunciou que
íamos sair e dormiríamos fora nessa noite. Todos os anos, íamos à sua cidade
natal fazer compras e turismo. Como o carro viria carregado, o meu pai disse-me
que o motel onde íamos dormir não aceitava cães. E, por isso, Fritzy não podia
ir connosco.
— Vai tudo correr bem — disse-me muito seguro. — Já
lhe deixei mais comida que o habitual e também é só por uma noite. Nem vai
notar que saímos.
Mas o meu coração ficou triste como a noite. Nunca
tínhamos deixado o Fritzy sozinho de noite.
Que faria ele? Em que pensaria?
Quando saímos, Fritzy ficou a ver-nos lá de cima, de
orelhas espetadas e a cauda a abanar como se dissesse: “Não são de confiança!”
Naquela noite, eu não dormi. Só pensava no meu cão,
sozinho, apavorado, perguntando-se por que o tínhamos abandonado.
Deviam ser dez horas quando regressámos no dia
seguinte. Não houve receção calorosa. Nada de pulos de alegria. Fritzy, nem
vê-lo! Chegou a noite sem ele regressar. Batemos à porta de todos os vizinhos,
casa a casa.
Cada aceno negativo de cabeça me aproximava do
desespero.
“Meu Deus, por favor, fazei que o Fritzy volte são e
salvo!”, disse eu nas minhas orações naquela noite, de joelhos ao lado da cama.
Passou-se uma semana e nada de Fritzy. Na escola
fazia um esforço por me concentrar, mas não conseguia pensar em mais nada a não
ser no meu cão perdido, errando algures numa estrada deserta.
Todas as tardes vinha da escola a correr para casa.
Entrava de rompante mas era recebida pelo silêncio e
o sorriso triste da minha mãe.
— Porque demora tanto a voltar? — perguntei-lhe eu um
dia.
— Espera! — respondeu-me ela.
— Começo a perder a esperança — murmurei.
— Enquanto vieres à tarde a correr para casa e
abrires a porta a toda a pressa, manterás a esperança bem viva! — respondeu ela
ao apagar a luz.
Compreendi então que a minha esperança precisava de
uma alavanca. Decidi que mesmo que desistisse da ideia de voltar a vê-lo,
deixaria sempre a porta aberta à esperança.
Passou mais uma semana. E cada vez era mais difícil
esperar. Mas mantive-me firme na minha determinação.
Uma tarde, ao chegar a casa, vi a camioneta do meu
pai diante de casa e perguntei-me porque teria vindo tão cedo do trabalho.
Parei e reuni todas as réstias de esperança que ainda havia em mim. Abri a
porta e entrei.
O corredor estava vazio mas ouvia o murmurar das
vozes dos meus pais atrás da porta da cozinha.
De repente, a minha mãe entreabriu a porta apenas o
suficiente para me ver.
— Bom dia, querido, tenho uma surpresa para ti —
disse ela sorrindo.
Nisto, abriu a porta toda para trás e Fritzy saltou
como um javali. Escorregou na tijoleira e foi bater contra a parede,
levantou-se, voltou a escorregar, conseguiu recuperar o equilíbrio e saltou
para os meus braços.
Surpreendido, recuei, mas já ele me lambia a cara.
À mesa, nessa noite, o meu pai contou como o nosso
valente cão tinha percorrido vários quilómetros para chegar ao consultório de
um veterinário que o havia tratado, há vários anos.
Durante duas semanas, Fritzy tinha sido alimentado,
escovado e lavado esperando pacientemente que nós aparecêssemos. O veterinário
ouvia rádio naquela manhã quando o anúncio do desaparecimento do nosso cão lhe despertou
a atenção. Soube então quem ele era.
Nessa noite o meu pai veio ter comigo e perguntou-me
se cheguei a pensar que nunca mais veria o Fritzy.
— Não — respondi.— Eu sabia que, enquanto aquela
porta ficasse aberta, mais cedo ou mais tarde ele havia de voltar!
Robert Tate Miller
JUSTIÇA

Daryl e John puseram as mãos no ar.
A professora, a Srª Fuller, ignorou-os. Eles tinham
sempre uma resposta na ponta da língua. Mas quase nunca era a que ela queria
que a turma ouvisse. Olhou por cima das cabeças que subitamente se puseram a
estudar o soalho ou à procura de algo nos cadernos.
— Algum de vocês sabe definir justiça? — perguntou
ela de novo.
Daryl e John continuavam a abanar as mãos.
Freneticamente.
A professora esperava ansiosamente que mais alguém
respondesse. Mas ninguém o fez. Suspirou.
— Tudo bem, Daryl — disse
ela. — Diz à turma o significado de justiça.
— Justiça é o oposto de
injustiça — disse Daryl, olhando em volta à espera da risota que iria
seguir-se. O que aconteceu.
— Todos calados! — ordenou a Srª
Fuller. — Receio que isso não nos diga muito, Daryl. Queres ser mais
concreto?
A professora tinha uma razão particular para
falar de justiça naquele dia. Quando ia a entrar no estacionamento da escola,
tinha visto Daryl e John e alguns dos seus amigos com um ninho de pássaros. As
aves-bebés estavam mortas no chão. Com um olhar circunspecto, tinham-lhe jurado
que nada tinham a ver com a morte dos passarinhos, mas ela conhecia-os muito
bem.
Costumavam rir-se dela, quando pensavam que ela não
estava a ver. Mas ela sabia. Deixavam penas na secretária, e ela ouvia-os
chamar-lhe a “Senhora dos Pássaros” ou “Velha Gralha” quando virava as costas.
Mas não se importava. Ela amava as pequenas criaturinhas indefesas.
De repente, ela deu-se conta que o seu pensamento
voava… Quando tinha estas ausências, os alunos diziam que ela “tinha voado para
o sul por causa do inverno.” Obrigou-se a voltar à sala de aula. A turma estava
a observá-la atentamente.
—Bem, Daryl, estou à espera de uma
resposta — disse ela.
—Eu já disse! — respondeu
Daryl. —Justiça significa que alguém recebe exatamente aquilo que merece.
—Pois! — acrescentou John — Como
quando alguém mata alguém e depois tem de morrer por causa disso.
—Pois! — concordou Daryl. —É isso
mesmo.
Os dois rapazes trocaram olhares que indicavam que
estava na altura de lançar o isco à professora.
—Por exemplo — continuou
John — vejam aqueles minúsculos passarinhos que encontrámos mortos no
parque de estacionamento. Quem quer que os tenha morto devia morrer de uma
morte dolorosa. Nem sequer quero ver de novo uma coisa assim. Se aqueles tipos
tivessem aquilo que merecem, isso sim seria justiça.
O tom meio a gozar, meio a sério, provocou pequenas
gargalhadas. Poucos eram os alunos que lamentavam aquela rotina diária a que os
rapazes expunham a professora. Esperaram todos para ver qual seria a resposta
dela naquele dia. Mas ela estava calada há tanto tempo que começaram a pensar
que tinha “voado para o sul” outra vez.
— Talvez tenhas razão — disse ela
finalmente. — Já nesta aula falámos de como vocês se sentem quando,
como adolescentes, passam por experiências desagradáveis, coisas injustas, por
causa da vossa idade, sexo ou cor. Por vezes não têm mais controlo sobre a
injustiça da situação do que aqueles inocentes passarinhos de ontem. Mas
parece-me que aprender a dar valor a todas as formas de vida é uma lição que
alguns ainda não apreenderam. Talvez o destino vos ensine aquilo que eu não fui
capaz de ensinar.
A campainha tocou.
A turma formou fila em silêncio pela primeira vez. A
professora nunca antes tinha falado assim. Ficaram de pé junto aos seus cacifos
e observaram-na enquanto ela descia o corredor e parava junto da porta de
entrada. Daryl e John estavam pouco à vontade. Esta não era a reação por que
estavam à espera. Já não se sentiam tão triunfantes como era costume.
— Vem daí! — disse
Daryl — Vamos procurar mais ninhos de aves.
John riu-se e disparou corredor abaixo atrás do
amigo. Lentamente, os outros foram-nos seguindo. A Srª Fuller estava de pé
junto à porta e os alunos passaram por ela, um atrás do outro, de regresso a
suas casas.
John e Daryl sentaram-se nos degraus da escola que
davam para a rua. Estranhavam a atitude da professora que não parecia aborrecida
com eles. Apenas olhava para eles.
— Vou mas é pôr-me a andar daqui para
fora! — disse John por fim.
Quando John se levantou, uma pena esvoaçou até ao
chão e roçou-lhe a face. Surpreso, olhou para Daryl. Este estava a olhar para
cima.
Ouviu-se um som alto e sibilante enquanto dois
enormes pássaros se precipitavam sobre os rapazes. Subitamente, gritos encheram
o ar, e os alunos que desciam a rua pararam a sua caminhada e voltaram-se para
trás. Estavam estáticos e incrédulos. Duas aves gigantescas cobriam John e
Daryl, golpeando-lhes a face.
A porta abriu-se e a professora apareceu.
Daryl e John abanavam as mãos no ar. Freneticamente.
Não havia nada que a Srª Fuller pudesse fazer.
Voltou a entrar na escola, com um olhar de tristeza
na face.
Roberta Simpson Brown
The Walking Trees and other scary stories
Little Rock, August House Publishers, 1991
(Tradução e adaptação)
(Tradução e adaptação)
COMO UMA CRIANÇA

Em minha casa, o começo de um novo ano escolar
significa sempre voltar à rotina. É a mesma
rotina que acontece em todo o país: levantar as crianças da cama, certificar-se
de que todos tomaram o pequeno-almoço, verificar se a filha mais nova, de cinco
anos, tem os sapatos calçados, ver se o cabelo está escovado e os dentes
lavados, distribuir o almoço ou o dinheiro para o pagar, pegar nas mochilas e
sair apressadamente…
Raramente refletimos nas atividades do dia-a-dia.
Como mãe, basta-me estar por perto, e tudo se vai fazendo. As tarefas
sucedem-se na minha mente, a cada momento. À exceção de uma manhã recente.
— As árvores estão a dançar, exclamou a minha filha
mais nova quando saíamos de casa.
A conversa sobre as árvores dançantes e a sua
coreografia continuou durante cerca de dois minutos até que, por fim, ignorei
as tarefas, desviei a minha atenção da rotina diária e reparei como o vento
soprava forte naquele dia. Oh! As árvores estavam a dançar! E eu estava tão
ocupada que não conseguia ver o mundo à minha volta! Comecei a prestar atenção
ao movimento das folhas e à beleza das árvores a dançar, e toda a minha concentração
se alterou…
Sentir a vida através dos olhos de uma criança de
cinco anos trouxe de volta beleza e admiração às minhas manhãs diárias. Dou-me
conta muitas vezes de que é fácil perder o sentido do milagre, do maravilhoso
da Criação, que eu tinha em criança. O mesmo é verdade sobre a minha relação com
o divino. Quanto mais tempo estiver absorta na rotina, tanto maior é a
probabilidade de perder parte desse milagre, de esquecer a veneração, a
frescura e a paixão.
Foi preciso uma criança para me lembrar de que é
necessário parar e dar valor ao milagre da minha relação com a Vida!
Deborah L. Kaufman
SER HUMANO COMPLETO

Sou completo,
Sou humano.
E resulto
Do negro e do branco
Da claridade do dia
Da escuridão da noite
Da humanidade em flor
Do arco-íris humano
Da dança ancestral da alma.
Pois é,
Esse sou eu.
Delmar francisco Maia Gonçalves,
in 39 Poemas e Contos contra o Racismo
A MENINA QUE VOLTOU A SORRIR

Outrora, todos gostavam de viver em Guardavida. O clima, a geografia pitoresca e a boa disposição dos habitantes atraíam sempre muitos viajantes provenientes de outros países. Mas, não se sabe bem porquê – talvez por inveja – Guardavida conheceu em poucos meses uma das piores catástrofes que um país pode sofrer: os homens tornaram-se inimigos uns dos outros!
No início, o pequeno reino de Guardavida foi saqueado e destruído por duas potências rivais, que o disputaram entre si. Em seguida, conheceu uma terrível guerra civil, que acabou por arruinar tudo o que restara do conflito anterior. Depois do ódio e da miséria terem cumprido o seu papel, os habitantes mergulharam num profundo desespero. O rei perdera entretanto a esposa e três filhos nos conflitos, e tinha decretado luto nacional por tempo indeterminado.
Quem quereria agora visitar as cidades arrasadas, os campos devastados e as estâncias balneares destruídas? Quem poderia rir ou divertir-se com uma população de refugiados, desencantados e resignados, que tinha até esquecido que a felicidade existia?
Acontece que, uma noite, a sentinela encarregada de vigiar as praias orientais de Guardavida se apercebeu de algo estranho no declive de uma duna. De arma na mão aproximou-se, sem fazer barulho, e ficou estupefacta com o que viu.
Deitado na cratera que uma bomba deixara na areia, estava um menino vestido de farrapos. O soldado rastejou até ao local e viu, apesar da escuridão, que a criança estava viva. De mãos atrás da nuca, com os joelhos fletidos, ela sorria ao contemplar o enorme céu escuro, no qual despontavam um crescente de lua e as primeiras estrelas.
O guarda observou a cara do rapaz durante um longo minuto e, depois, com a rapidez de um relâmpago, saltou para junto dele, apontando-lhe a arma.
― Alto lá! ― gritou a sombra debruçada sobre a criança que, entretanto, se pusera de joelhos, com o coração a bater forte. ― Alto lá! ― gritou de novo o soldado, como se o menino fosse fugir. ― Põe-te de pé, seu malandro! Há mais de um minuto que te vejo a sorrir!
― Eu… eu não estava a fazer nada de mal ― balbuciou a criança.
― Toca a andar! Não passas de um pequeno verme sorridente! ― gritou o soldado, batendo-lhe com o bastão nas costas.
― Não… não sou um inimigo, não sou um estrangeiro ― tentava explicar a criança, que caminhava agora rapidamente, com as mãos no ar.
― De Guardavida não és, porque sorris de noite, às escondidas. És um malandro que não respeita o nosso luto nacional, um foragido que troça da nossa mágoa e dos nossos mortos!
― Mas… mas… eu estava a sorrir sem me dar conta ― dizia o menino, já sem fôlego. ― Sorria por causa do primeiro crescente de lua: os meus lábios imitavam a sua forma. Sorria porque a areia está morna e a noite é tão amena…
― Como? Morreram milhares de Guardavianos nestas praias, a defender a sua pátria. Estas dunas, crivadas de bombas, de balas e de granadas, ficaram juncadas de cadáveres!
E o soldado bateu com força na cabeça do menino, que caiu por terra. Mas em breve se levantava, segurando um punhado de areia na mão.
― Veja, veja como esta areia é morna e macia e…
Quando o soldado se preparava para bater de novo na criança, esta atirou-lhe a areia aos olhos e desatou a fugir.
O rapaz correu pela noite dentro até ao alvorecer. Embora estivesse há muito fora do alcance do soldado, sentia-se inquieto. Resolveu então refugiar-se durante o dia numa pequena floresta de bétulas prateadas, e voltar à estrada ao anoitecer.
Guiado pelo murmúrio da água que deslizava sobre os seixos, começou a avançar pela floresta dentro. Acabou por se sentar na margem de um pequeno riacho que se divertia a serpentear por entre os salgueiros. A luz daquela manhã de abril penetrava através das folhas cor de amêndoa e fazia brilhar os troncos das bétulas. Milhares de estrelas reluziam na superfície da água.
A criança que, em silêncio, desfrutava do espetáculo sempre novo da água, do ar e da luz, maravilhou-se com o aparecimento fulgurante de um guarda-rios. Era como se quatro anos de guerra tivessem poupado este pequeno paraíso no coração de Guardavida. Como se as andorinhas, os tentilhões e os chapins que chilreavam e saltitavam nunca tivessem ouvido o troar dos canhões, o zunir das balas, o estertor dos moribundos e as queixas dos sobreviventes.
Aqui, a água que brotava de uma nascente pura e corria sobre os seixos, continuava a ignorar a cor do sangue. Exausto, o rapaz deitou-se no musgo e acabou por adormecer, embalado pelo canto dos pássaros. E, enquanto dormia, sorria para os anjos do céu azul…
Desta vez, não foi uma sentinela mas uma patrulha inteira que o acordou, em sobressalto. Através do sol ofuscante do meio-dia, a criança conseguiu distinguir seis rostos ameaçadores debruçados sobre ela. Momentos depois, de mãos atadas e boca amordaçada, foi conduzida à cidade mais próxima e atirada para um calabouço sombrio.
Passaram-se dois dias e duas noites intermináveis, durante os quais, cheia de fome e com o corpo pisado, só não sucumbiu ao desespero porque pôde respirar o cheiro de uma glicínia que se estendia pela parede exterior da prisão.
Na manhã do terceiro dia de prisão trouxeram-lhe finalmente um pouco de pão e água, e fizeram-na comparecer, em seguida, perante os juízes. Numa sala enorme, com paredes de pedra, três homens com vestes compridas debruadas a arminho branco estavam diante dele, enquanto uma multidão cinzenta e agitada murmurava nas suas costas.
― Estrangeiro! ― começou um dos juízes. ― És acusado de teres entrado ilicitamente no nosso país, de teres agredido um dos guardas fronteiriços e, sobretudo, de teres desrespeitado, por duas vezes, o luto nacional decretado pelo nosso soberano, mostrando assim o teu desprezo pela dor e mágoa dos nossos concidadãos. És uma ameaça à paz do reino e incorres na pena capital, reservada aos traidores da pátria. Reconheces todos estes factos?
― Mas ― respondeu a criança ― eu nasci em Guardavida, há dez anos, mais ou menos, e… ― Admito que pareces conhecer a nossa língua ― interrompeu o segundo juiz, sentado à direita do primeiro ― mas quem pode provar que és um Guardaviano, se não encontrámos nenhum documento de identificação na tua roupa esfarrapada?
― Tudo me foi roubado há dias, enquanto dormia ao relento. Os meus pais deviam ter o que procurais, mas foram mortos num bombardeamento há três meses.
― Mentes! ― interrompeu secamente o terceiro juiz. ― Se os teus pais tivessem morrido num bombardeamento, não sorririas durante o sono.
A multidão soltou uma exclamação de espanto.
― Mas eu senti uma grande dor quando os meus pais foram mortos, e continuo a sentir uma pena imensa. Às vezes, choro sozinho, com o estômago contraído, e cerro os punhos para não gritar…
― Quando tentaram prender-te na costa oriental, a sentinela assegurou que sorrias sozinho e que troçavas da morte recente dos teus pais!
― É que, quando penso nos passeios que dei com o meu pai, quando me lembro das suas brincadeiras, quando revejo os olhos da minha mãe e me dou conta do tesouro que eram os beijos que me dava antes de dormir, o meu rosto ilumina-se de felicidade!
― Não negas, então, que és incapaz de respeitar o nosso luto. Seis testemunhas ajuramentadas viram-te sorrir para os anjos, no dia a seguir ao teu primeiro delito!
― Estava contente ― disse a criança ― por ouvir os pássaros cantar e o rio murmurar por entre os seixos. A descoberta dos primeiros lírios de água, o perfume de uma flor selvagem, tudo alegra o meu coração... Às vezes, esqueço-me da minha tristeza quando vejo o sol brilhar na água ou brincar com as nuvens. Gosto de ver o vento acariciar as ervas ou dançar nos ramos dos salgueiros…
Um longo murmúrio elevava-se agora da multidão, como se as suas palavras tivessem despertado nas pessoas surpresa, consternação e cólera.
― Basta! ― disse o primeiro juiz, batendo com o martelo na secretária. ― Esta criança clandestina que reconhece os seus crimes perturba a ordem pública! Condenamo-la à forca, como fazemos a todos os traidores de Guardavida!
Segundo os costumes de Guardavida, os condenados à morte eram conduzidos diante do soberano, na véspera da execução, a fim de poderem beneficiar de um perdão real. Mas o rei, desde que perdera a família, nunca mais tinha acordado perdão algum. Era como se a dor tivesse destruído toda a compaixão. Se ainda aceitava participar nesta cerimónia, era mais para respeitar um costume instituído do que para salvar a vida de algum miserável.
De facto, quando se dignava olhar para alguns dos condenados, via sobretudo neles os assassinos da sua família e, caso pudesse, em vez de lhes conceder perdão, ele mesmo lhes cortaria o pescoço. Foi pois com uma esperança assaz diminuta que o rapaz foi conduzido diante dele, acompanhado por uma dúzia de prisioneiros.
Sentado numa grande sala do palácio, no trono de ébano, o rei estava absorto nos seus pensamentos sombrios. A sua única filha ainda viva estava sentada a seu lado e acariciava os cabelos dourados de uma boneca de porcelana. Quando os condenados entraram e foram conduzidos até ele, o monarca levantou os olhos, e o seu rosto imóvel foi-os olhando, um a um, sem trair a menor emoção. Olhava-os sem os ver. Porém, quando os olhos do rei pousaram no rapaz, o seu corpo ficou hirto, soltou um grito de cólera e foi tomado de um furor terrível.
― Insolente! Traidor! Anarquista! Como ousas, diante de mim, desprezar as minhas leis, violar o nosso luto e profanar a memória da minha própria família?
― Perdoai-me, Senhor, perdoai-me. Não queria ofender-vos nem faltar-vos ao respeito, mas a vossa filha…
— Como te atreves? ― espumava o rei.
— A vossa filha tem um ar e uns olhos tão tristes que não pude conter-me: sorri-lhe quando os nossos olhares se cruzaram… É mais forte do que eu, vem-me do mais profundo da alma e…
Mas o rei deixara de o ouvir. Observava, maravilhado, a filha, o seu único descendente vivo, a sua única consolação, a sorrir... A filha sorria para o menino que ia morrer…. Durante muito tempo todos, guardas, senhores e condenados, ficaram suspensos da reação do rei. E foi então que todos assistiram a um autêntico milagre! Desarmado, estupefacto e hipnotizado, o monarca não conseguia desviar o olhar do rosto da filha. Pouco a pouco, os seus lábios começaram a tremer e uma lágrima deslizou do seu olho direito e azul. Por fim, sorriu, emocionado, para a princesa. Um
murmúrio percorreu a assembleia. Uma alegria silenciosa tomou o lugar do mais profundo desespero. Um sorriso partilhado e tranquilo emergiu da dor e das mágoas e contagiou todos quantos estavam presentes na sala.
EPÍLOGO
O fim do luto nacional foi decretado naquela mesma noite; os treze condenados à morte, entre os quais a criança, foram agraciados e soltos. A história não diz o que aconteceu ao rei, à princesa e ao menino. Sabe-se apenas que Guardavida se tornou de novo um país hospitaleiro e acolhedor, onde dá gosto viver. Sabe-se também que não há dor nem desgosto tão intensos e violentos que não possam vir a ser consolados, que não possam ser redimidos pela vida sempre nova e apaixonante que nos espera.
Jean-Hugues Malineau
L’enfant qui retrouva le sourire
Paris, Albin Michel Jeunesse, 1999
(Tradução e adaptação)
CHICO
Chico vive numa aldeia perdida num dos muitos países de África. Podia ser em Angola, no Senegal ou no Ruanda. Podia chamar-se Chico, Abuabar ou N’gouda. Há muitos Chicos em África. Chicos de olhos brilhantes e pés descalços, com a cabeça povoada de sonhos, com vontade de ter um futuro para viver.
Como quase todos os seus companheiros, Chico levanta-se bem cedinho pela manhã. Ajuda a mãe a tratar das duas cabrinhas, Flor e Kenchú, e só depois parte para a escola.
Chico gosta particularmente de Flor. Foi ele quem lhe pôs o nome, no mesmo dia em que ela chegou à palhota, apertada nos braços fortes do pai, ainda mal se segurando nas patinhas frágeis, e a berrar pela mãe. Fora um vizinho que lha dera, como forma de pagar a ajuda no arranjo da cabana.
Na primeira noite, Flor berrou todo o tempo a chamar pela mãe e nem deixava que Kenchú a tentasse acalmar, lambendo-a. Deitado na sua esteira, Chico não conseguia adormecer. Entendia tão bem a cabrinha! O pai dele arranjara trabalho longe, lá na cidade, e só podia vir a casa de quinze em quinze dias. Às vezes, para fazer mais algum dinheiro, ficava fora mais tempo. Quando chegava a hora de regressar à cidade, o pai dizia-lhe que se portasse como o chefe da casa e que devia obedecer à mãe. Como se fosse preciso dizer-lho! Ele bem sabia que a mãe, com o trabalho na fazenda do Sr. Macedo, com os gémeos de três anos e Linita, de oito, não podia fazer tudo, e precisava da ajuda dele.
De todas as vezes que o pai partia, Chico ficava triste o resto do dia, mas depois passava. Quando a saudade lhe enchia o peito até cima e parecia querer saltar pelos olhos, apertava na mão com muita força o seixo que o pai lhe dera naquela tarde em que Chico pescara o maior peixe da sua vida. O pai explicara-lhe que tinha arranjado na cidade um bom trabalho, mas que ia deixar de poder vê-los todos os dias. Depois, metera a mão na água e tirara dois seixos, os mais bonitos que Chico alguma vez vira, e colocou-lhe um na palma da mão.
— Quando tiveres muitas saudades minhas, apertas com força esta pedrinha. A tua saudade vai passar para a minha pedra e eu vou recebê-la e tu vais sentir-te acompanhado.
Em certas ocasiões, as saudades eram tantas que acabavam por conseguir irromper para fora e duas lágrimas teimosas, quentes e grossas, deslizavam suavemente pela face castanha-escura de Chico. Ah, como ele compreendia a cabrinha malhada com a manchinha branca na testa! Esgueirou-se para fora da palhota sem acordar os pais e os irmãos que dormiam, saiu para a noite quente e húmida e entrou na cabana dos animais. Passou a noite inteira deitado ao lado de Flor, que se acalmou e acabou por adormecer com a cabeça poisada no peito de Chico. No dia seguinte, já aceitou de bom grado o leite que Kenchú lhe oferecia.
Os pais estranharam a mudança mas, durante algum tempo, a causa dessa transformação ficou um segredo entre Chico, Flor e Kenchú. Só depois de ordenhadas as cabras e de lhes ter deitado de comer, é que Chico saía para a escola. À saída da aldeia encontrava-se com Djimbu e Mkembé, os seus dois melhores amigos, e juntos faziam o caminho até à escola das Missões.
Ir à escola era o que Chico mais gostava. O seu maior sonho, já segredado para dentro das orelhas de Flor e contado ao pai, durante uma tarde de pesca, era, um dia, poder ensinar outros meninos como ele a ler e a escrever. E haveria de trabalhar tanto, que iria até conseguir dinheiro para comprar uma bicicleta novinha para os irmãos, igual a uma que vira um dia. Bem, do que ele gostava mesmo, mesmo, era de um dia poder ter um carro como o do Sr. Macedo, o dono da fazenda onde a mãe às vezes ia trabalhar.
Mas esse era o seu maior segredo e ainda nem se atrevera a contar a ninguém, nem mesmo a Flor. Claro que, se o contasse a Djimbu ou a Mkembé, eles também iam querer, e deixava de ser um desejo só dele… De cada vez que o Sr. Macedo vinha à casa grande, somente de tempos a tempos, Chico ficava parado no caminho a observar o grande carro branco e brilhante, tão brilhante que, quando o sol cintilava nos vidros, até fazia doer os olhos, e assim ficava perdido no seu segredo.
Ao chegar à escola, Chico notou um alvoroço desacostumado. Alguns homens em manga de camisa transportavam caixas para dentro do edifício da escola. Pareciam todos muito bem dispostos, e até o Palhinhas, o cão acastanhado do professor, soltava latidos alegres e abanava a cauda, bem disposto. Chico, Djimbu e Mkembé estugaram o passo. Que confusão! Quando a velha furgoneta partiu, deixando a velha escola atafulhada de caixas, sentaram-se, de pernas cruzadas no chão e o professor deu início à abertura das caixas.
Era uma encomenda vinda da Europa com uma oferta de material para a escola. Perante o olhar fascinado das crianças, o professor foi retirando, com largos gestos teatrais mas sinceros, folhas soltas, restos de cadernos, cadernos e blocos novos e usados. Chico nem queria acreditar! Aquele material podia não ser novo, mas para eles isso não tinha a menor importância e era-lhes muitíssimo útil. Quem o enviara parecia adivinhar exactamente aquilo de que estavam a precisar!
O professor continuou a retirar lápis, lápis novos e usados, restos de lápis, lápis de cor – que bonitas as cores! – canetas – eram tão poucas as que lhes chegavam à escola! – borrachas que apagavam o que o lápis escrevia. Mas o melhor de tudo vinha no último caixote… Quando o professor o abriu, o rosto iluminou-se num sorriso. Muito lentamente, como um mágico que tira um coelho da cartola, o professor foi erguendo o braço. As crianças, mortas de curiosidade e com os olhos a brilhar, sustinham a respiração. O professor mostrou…
Livros!! Livros com imagens cheias de cor! Chico sentiu o coração a bater mais rápido. Parecia-lhe que estava a viver um sonho e só tinha medo de que a mãe o acordasse naquele momento.
Livros! Chico era capaz de ficar horas a fio mergulhado e perdido nas páginas de um livro. Ainda não tinha lido muitos. Só três dos meros vinte que constituíam a magra biblioteca da escola. Podia ser muito reduzida, mas os meninos achavam-se importantes por os terem e manuseavam-nos carinhosamente e com muito cuidado. Chico tinha lido os três mesmo até ao fim, e tantas, tantas vezes, até saber as histórias de cor e poder contá-las à noite, em volta do lume, à mãe, ao pai e aos irmãozinhos, que o escutavam com os grandes olhos castanhos muito abertos de espanto e com a respiração suspensa. Se Chico pudesse, levaria um daqueles para casa para lhos ler. Ficariam certamente ainda mais orgulhosos dele. Se algum dia conseguisse ganhar dinheiro, haveria de poupar até conseguir juntar o suficiente para comprar um grande livro de histórias ou de aventuras para ler aos irmãos. O maior e o mais grosso que houvesse à venda.
Os pensamentos de Chico foram interrompidos pela passagem do professor. Já tinha partido os lápis em pedaços mais pequeninos, que distribuía naquele momento pelos alunos. Cada um ia encaixar o seu pedacinho de lápis numa caninha ou num pau para conseguir aproveitá-lo até ao fim. Tinham autorização para levar o material para casa, mas ninguém o levava com medo de perder as preciosas folhas de papel ou os lápis.
Chico pegou no seu, como quem recebe em mãos uma relíquia ou um tesouro. Não, hoje ia ter muito cuidado. Da última vez que preparara o lápis, no preciso momento em que estava a cortar a cana, o Sr. Macedo apareceu no seu carro brilhante, a apitar a uma gazela que se atravessara no caminho. Por momentos, Chico esqueceu tudo o que estava a fazer, imaginando-se sentado nos bancos macios, por trás do volante, com o vento a acariciar-lhe a face, e a apitar a empalas, zebras e macacos. Zás! Deixou cair o braço e cortou o bico do lápis, que, se já era pequeno, ainda mais reduzido ficou.
Que tristeza! Até deu pontapés no velho baobá que se erguia à saída da cabana, de tão furioso que ficou. Porque é que o Sr. Macedo tinha de aparecer precisamente naquele momento? Por causa daquele carro enfeitiçado, já não teve lápis para escrever ao pai – o encarregado da fábrica lia as cartas aos empregados – por aquela altura em que esteve muito tempo sem vir a casa. Não, desta vez ia estar com mil olhos. Nem que passassem dois carros a apitar mesmo ao lado dele, ele ia ceder à tentação de olhar!
Ao regressar a casa, Chico apertava com força o seixinho do rio. Tinha tantas novidades para contar em casa! E tanta coisa para escrever ao pai! Queria dizer-lhe que, da próxima vez que viesse a casa, ele, Chico, iria ter novas histórias para contar à noite, junto ao fogo.
I. Birnbaum
PORQUE É LIVRE A LUA...

Oh, como o Sol amava a Lua! Tão pálida e tão adorável. O Sol morria por se casar com ela.
— És mais bela do que as nuvens e com mais encanto ainda do que a rosa mais fresca. Quero-te só para mim — disse-lhe o Sol.
A Lua estava habituada a brilhar sozinha todas as noites e gostava disso. Sempre que se sentia só, tinha milhões de estrelas com quem conversar, meteoros para disputar corridas e planetas que a faziam rir.
Por isso a Lua respondeu ao Sol:
— Caso contigo, mas com uma condição. Tens de me dar uma prenda linda. Gosto de camisas bordadas. De blusas brancas aos folhos. Gosto de grandes saias a flutuar ao vento da noite. Pode ser qualquer coisa, mas tem de me assentar bem. E ser exatamente do meu tamanho!
O Sol, embora estivesse cansado de aquecer a Terra e de iluminar o Céu todo o dia, passou a noite inteira acordado observando a Lua, na tentativa de escolher o presente certo. Mas não se decidia.
— Tens de ficar mais bonita ainda, quando fores minha esposa — disse o Sol. — Eu posso arranjar-te o que quiseres. Por favor, diz-me o que te agradaria mais, meu amor!
Mas decidiu-se finalmente por uma saia tecida com fio de ouro e finas tiras de luz estelar.
— Oh, todas as estrelas vão invejar a minha noiva— pensou o Sol.
Mas depois, quando o Sol viu de novo a Lua, ficou admirado: ela não era mais do que uma vaga forma, quase uma sombra do que anteriormente fora.
— Oh, minha querida! — gritou. — O amor tirou-te o apetite. Como estás magra!
Correndo, o Sol atravessou o Céu e foi ter com o seu alfaiate para que apertasse a saia de modo a que ficasse bem à nova lua nova, comprida e esbelta. Mas quando regressou, a Lua, que já engordara um pouco, não pode fazer passar a saia pelas ancas.
— Ai! — exclamou.
E até ficou azul de tanto se esforçar, para meter o seu corpo lunar na apertada saia…
— Não é este o tamanho. Esta saia sufoca-me e tira-me a luz.
— Ai, meu amor. O que acontece é que agora estás um pouco mais gordinha, mas vais ver. Quando eu voltar, a saia vai-te assentar bem! — disse o Sol.
E apressou-se a atravessar as montanhas e a pedir ao Relâmpago que acrescentasse à saia umas riscas da sua luz resplandecente para que os quadris mais largos da Lua passassem sem problemas.
Mas entretanto, passados que foram dois dias, a Lua já estava mais gorda. Por isso, teve de conter de novo a respiração e de apertar a barriga o mais que pôde.
— Achas que eu sou tão redonda como uma panqueca? — gemeu. E ao soltar-se, o esforço que fez gelou a cara ardente do Sol.
— Como pudeste pensar que esta saia me ia ficar bem?
Durante trinta dias, o Sol tentou de novo uma e outra vez, sem nunca conseguir acertar com as medidas exatas da Lua. Sempre a mudar! Tirava-as com cuidado para que a roupa lhe assentasse na perfeição. Mas, qualquer que fosse o presente — outra saia, um chapéu diferente ou um novo casaco, era sempre muito pequeno, apertado ou largo de mais!
Por esta razão, o Sol nunca pôde casar com a Lua. Agora, todos os dias, pouco antes de ir dormir ao Céu do ocidente, o Sol observa a Lua, que às vezes está delgada, outras vezes mais redonda, com frequência num meio-termo, mas sempre a brilhar com aquela luz prateada e cintilante. E a única coisa que lhe resta é contemplá-la do outro lado do Céu quando a noite vem….
E todas as noites, antes de se deitar, o Sol suspira — longa e tristemente — pelo seu amor rejeitado.
E, em cada noite, enquanto caminha pelo Céu, a Lua ri-se de prazer e de alívio.
Mary-Joan Gerson
Fiesta feminina
Cambridge, Barefoot Books, 2003
(Tradução e adaptação)
DOIS AMIGOS A SÉRIO

— Irritas-me mesmo! — resmunga Roberto. — Isto aqui não é para ti! É só para os grandes!
O parque de diversões não é para garotos de cinco anos, mesmo que morem na rua por detrás das barracas de tiro, precisamente onde Roberto também mora. Mas Marco não deixa que o tirem dali. Com passos largos e pesados segue atrás do outro. Quando ele para, Marco para também.
— Porque é que andas sempre a correr atrás de mim?
— Eu não ando a correr atrás de ti — afirma Marco. — Tu é que andas muito depressa!
— Eu não quero que venhas comigo, percebes?
Marco para. Deita para fora a pequena barriga redonda que a camisola interior, com um buraco do tamanho de uma cereja e muitas nódoas de gelado e doce, só tapa até ao umbigo. Enfia as mãos bem fundo nos bolsos das calças e deixa descair os cantos da boca, lançando sobre Roberto o seu olhar amuado.
Roberto fica mais meigo…
— Pronto, anda cá! Lá por mim… — com um gesto largo chama-o para si.
É assim o jogo. Roberto, o grande de 10 anos, deixa que o pequeno de 5 anos vá com ele. Sem Marco, o parque de diversões não é tão divertido. Mas alguém tem mesmo que ser o chefe e mandar! Regras são regras.
Ninguém é tão fiel como Marco. E ninguém escuta Roberto com tanta atenção. Pouco importa que haja muitas coisas que não entende, que não perceba tudo aquilo que o amigo sonha e relata. Sonhos que ele conta de forma tão emocionante como se fossem reais. Mas só Marco acredita em tudo o que ele diz. Só ele consegue o que mais ninguém consegue, mesmo quando esse alguém é hábil e crescido. Marco gosta mesmo muito de Roberto!
Roberto e Marco têm muito tempo para vaguear porque ninguém se ocupa deles. Só à noite é que têm de ir para casa jantar, o que é importante; e também é importante que ainda se vejam as cores das calças e que não haja cabeças partidas. À tarde, andam juntos pelo parque de diversões, farejam as salsichas grelhadas para as quais não têm moedas, lambem em pensamento o algodão doce que não podem comprar por falta de dinheiro, e porque preferem gastar o pouquinho que têm num gelado.
Roberto tem algum dinheiro. Mas muito pouco! Nos bolsos, Marco tem elásticos para fazerem fisgas, e o lenço de assoar, enorme, do pai, usado já milhentas vezes. Primeiro, passeiam calmamente até à montanha russa, parando um bocado. Ouvem como os carrinhos às cores
cheios de pessoas se lançam pelas curvas, continuam a corrida a subir e vão ficando mais lentos, como se não conseguissem chegar ao cimo.
— Agora! — grita Marco, agarrando a barriga com as duas mãos. Aperta os lábios, fecha os olhos com força. Imagina-se a descer a pique e a toda a velocidade. Mal as pessoas gritam com medo, ele agarra o braço de Roberto, e Roberto agarra Marco pelos ombros e tapa-lhe os olhos.
— Já passou — diz, tirando a mão.
É assim o jogo. Na pista de cart é a vez de Roberto. Regras são regras. Marco está radiante. É bom ter medo quando Roberto está ao seu lado para o proteger. Roberto é daqueles que nunca têm medo. E quando tem, nunca mostra. E ganha quase todas as bulhas, embora não goste nada de lutar quando é provocado. Mas como é bom quando o mais pequeno está a assistir e grita com toda a força:
— Aguenta!
Depois da luta, quem mais poderia bater no ombro de Roberto, a não ser o pequenito? Quem mais poderia limpar-lhe o rosto suado de uma forma tão carinhosa e desajeitada, com a única ponta limpa do lenço todo sujo?
Roberto faz voz grossa:
— Deixa lá isso! Não sou nenhum bebé.
Mas Marco responde:
— Um dia ainda vou ser como tu. Igualzinho a ti! E depois, também vou deixar que me limpem a cara!
Marco chega mesmo a querer imitar, com as suas pernas curtas, o andar de Roberto. Um andar um pouco largo, com passos seguros, as mãos nos bolsos das calças, mesmo que os bolsos estejam meio rotos e, ao correr, esvoacem como bandeirolas ao vento! E procura habituar-se a falar como Roberto, com pequenas pausas entre certas palavras que soam muito adultas…
Marco sabe gracejar como o amigo, e não lhe fica nada atrás. E sabe jogar futebol com a bola demasiado mole, a que falta sempre um pouco de ar para que salte bem. Como uma flecha, Marco corre atrás dela e atira-se para a baliza. Não chora quando cai, nem quando o chão é duro e a terra salta e arde nos olhos. Só chora depois, em casa, quando a água corre sobre as feridas.
Da montanha russa seguem para o autódromo, passando pelo baloiço gigante e pelo carrossel.
— Gostava tanto de voar uma vez no avião! Achas que alguma vez vamos conseguir juntar tanto dinheiro?
Como sempre, Marco olha com desejo e pena para os cavalos de pau a baloiçar, para o seu avião que gira ao lado das motas pretas.
— Voar, é sempre possível — diz Roberto — com o nariz no chão! Anda, vamos para a pista de cart!
— Tu ficas com o carro número 4. Eu com o 6 — decide Roberto quando lá chegam.
Encostam-se à rampa e observam como os outros entram nos seus carros. Mal os carros começam a trabalhar, imaginam-se atrás do volante, carregam no acelerador, cortam as curvas, chocam contra as proteções, guinam com o volante. O número 6 rasga a meta a grande velocidade.
— Campeão!! — grita Marco por Roberto. Até se esqueceu que apostou no número 4!
Mas Roberto é sempre o vencedor! O jogo é assim.
E o vencedor também ganha o gelado. O perdedor tem autorização para lamber três vezes, uma vez em cada cor. Regras são regras. Às vezes também há um pão com fiambre como prémio. Ou chocolate. Marco recebe então uma tira inteirinha, e meia tira quando os chocolates são recheados. Em troca, oferece ao amigo, uma vez por outra, um selo turco, porque o avô lhe manda um postal por mês. Marco mandou dizer ao avô que lhe enviasse sempre um selo diferente porque, por cada selo bom, recebia um bocado de chocolate!
Mas Marco preferiria voar no avião… a comer chocolate…
— Só uma volta — implora Marco.
Mas o amigo responde:
— Isso não dá. O carrossel tem muitas voltas. Não nos vendem só uma!
— Pergunta aos teus amigos se nos emprestam algum dinheiro. Aos do parque de estacionamento, aos que indicam os lugares vagos aos carros!
— Eles não andam a gastar as pernas para tu poderes andar de avião!
— Porque é que nós não trabalhamos também no parque de estacionamento? — pergunta Marco.
— Porquê? Primeiro, eles não aceitam miúdos. Segundo, não aceitam ninguém. Senão, têm de dividir o dinheiro por muitos.
— Mas vamos lá na mesma! — insiste Marco.
— Não.
— Eu também sou o teu melhor amigo.
— Pois és — diz Roberto. — Mas não vamos!
— Também te deixo ganhar sempre no cart!
— Eu ganho de qualquer maneira porque tu gritas sempre por mim: “Campeão!”
Marco para. Deita a pequena barriga redonda para fora, enfia as mãos nos bolsos das calças, lança sobre Roberto o seu olhar amuado.
— Pronto, está bem — diz este com gentileza. — Vá. Por mim, podemos ir.
— Eu adoro-te! — diz Marco.
Depois, estica-se todo até chegar ao pescoço de Roberto e pespega-lhe um grande beijo na cara.
— Deixa-te disso — retorquiu Roberto. — Não sou nenhum bebé! — Com as mãos, limpa a cara do beijo de Marco.
Depois dobra-se, rápido, e dá-lhe um beijo na cabeça, mesmo a meio do cabelo curto e espetado como um ouriço.
— Ai! Isto pica! — Roberto leva as mãos aos lábios.
— E pica bem! — diz Marco, a rir.
No parque de estacionamento, Ivo e Theo indicam aos carros que chegam os lugares vagos. As crianças que lá “trabalham” têm a idade de Roberto. É assim que ganham algum dinheiro com as gorjetas dos condutores.
— Isso eu também sei fazer! — Marco observa como Theo faz sinal a um carro, corre à frente e leva-o até um lugar livre.
— Isto não são coisas para ti — diz Roberto.
Depois pergunta a Theo onde está o terceiro, o Jojo.
— Jojo fez chichi para o pneu da frente de um Mercedes — diz Theo. — No preciso momento em que o condutor regressava. Pusemos Jojo fora do grupo. Nada de chichis, nada de riscar a pintura, nada de tirar ar dos pneus. Era assim que estava combinado!
— Ouviste? — diz Roberto a Marco. — Regras são regras. Com eles também.
— Queres substituir Jojo? Ainda podíamos precisar de um terceiro. Mas de um quarto, não! — diz Theo, ríspido, deitando um olhar reprovador a Marco.
— Eu alinho, mas só se este ficar comigo. É o meu ajudante!
Indica Marco que está à sua beira como um pequeno soldado, os ombros para trás, a barriga encolhida, a cabeça direita, com um olhar de “eu-já-sou-grande”, como quem diz: nem penses que eu sou tão pequeno como pareço!
— O quêêê!?! — grita Theo. — Precisas de ajuda? Aqui ninguém precisa de mais do que dois braços. Além disso, ele é pequeno demais. Ainda escorrega para baixo do capot de um Volkswagen!
— Eu tomo conta dele! — diz Roberto. — O miúdo é fixe.
Roberto não vai desistir de maneira nenhuma. Esta noite ainda vai fazer uma surpresa a Marco!
— Podes ir brincar de babysitter para outro lado! — diz Ivo, aproximando-se. — Aqui trabalha- se. Não precisamos de uma quarta pessoa. Podes ir embora!
— Vamos com calma — diz Roberto muito adulto. Pega em Marco, que só tem uma grande barriga e que, de resto, é muito magro e levezinho.
— Segura-te — diz-lhe para cima. — Nós os dois contamos por um! — diz para Ivo.
— Queres brincar aos gigantes, é? — Theo sorri com ironia.
— Apostas em como nos veem melhor a nós os dois do que a vocês? E em como nós temos mais gorjetas que vocês? No fim, calha-vos mais dinheiro!
— Hum — resmunga Ivo.
— Combinado — diz Theo. — Mas se der para o torto, sais tu e o teu ajudante anãozinho.
— Não sou anão nenhum! — grita Marco. — Agora, sou maior do que tu!
Ao anoitecer, Roberto e Marco tinham já ajudado a estacionar nove carros. De cada vez que um carro chegava, Marco trepava para os ombros de Roberto. Este orientava os condutores até aos lugares vagos e Marco baixava-se e recebia o dinheiro.
Fazem-se as contas antes de cada um ir para casa.
As gorjetas recolhidas vão para o boné de Theo. O dinheiro é dividido pelos três. Marco faz as contas com Roberto: dois gelados, meio pão com fiambre para cada um. Duas tabletes de chocolate, uma recheada, outra simples. Estão ricos! Talvez ainda sobre algum para…
— Amanhã, deixo-te voar! — exclama Roberto, levantando o pequeno no ar.
Rodopia com ele de tal forma que Marco quase se desequilibra.
— Queres dizer voar a sério — pergunta Marco ao amigo — ou só como agora?
— A sério! — diz Roberto. — No teu avião.
— Iupii!! — grita Marco, dando um enorme salto no ar.
— Então convido-te eu também para uma volta de cart. Depois grito “Campeão!” e tu estás mesmo sentado lá dentro.
— OK! — diz Roberto.
É assim o novo jogo.
— Mas eu sou o primeiro — diz Marco.
— De acordo — responde Roberto.
Novo jogo, novas regras!
Evelyne Stein-Fischer
13 Geschichten vom Liebhaben
München, DTV Junior, 1990
(Tradução e adaptação)
ABRIR ASAS E VOAR

Tal como com outras raparigas, a minha autoconfiança à medida que ia crescendo praticamente não existia. Duvidava das minhas capacidades, tinha pouca fé no meu potencial e questionava o meu valor pessoal. Se tinha boas notas, acreditava que era apenas por sorte. Embora fizesse amigos com facilidade, preocupava-me que, uma vez que as pessoas me conhecessem, as amizades não perdurassem. E se as coisas corriam bem, pensava apenas que estava no sítio certo no momento certo. Rejeitava mesmo elogios e cumprimentos.
As escolhas que fiz refletiam a imagem que tinha de mim própria. Ainda adolescente, senti-me atraída por um homem com a mesma baixa estima. Apesar do seu temperamento violento e de um relacionamento extremamente complicado durante o namoro, decidi casar com ele. Ainda me lembro do meu pai a sussurrar-me ao ouvido antes de me acompanhar ao altar “Ainda não é tarde demais, Sue. Podes mudar de ideias. ” A minha família sabia o erro terrível que eu estava a cometer. Umas semanas depois, também eu.
A violência física durou vários meses. Sobrevivi a ferimentos graves, estava coberta de pisaduras a maior parte de tempo e tive que ser hospitalizada em inúmeras ocasiões. A minha vida tornou-se uma mancha obscura de sirenes da polícia, relatórios médicos e presenças da família nos tribunais. No entanto, eu voltava sempre para aquela relação, na esperança de que as coisas pudessem melhorar.
Depois das nossas duas meninas terem nascido, houve alturas em que tudo o que me ajudava a superar mais aquela noite era ter aqueles bracinhos rechonchudos à volta do meu pescoço, as bochechas gorduchas esmagadas contra as minhas e aquelas deliciosas vozinhas infantis a dizer “Está tudo bem, Mamã. Tudo vai ficar bem.” Mas eu sabia que não ia ficar bem. Tinha mudanças a fazer – se não por mim, pelo menos para proteger as minhas filhas.
Então algo aconteceu que me deu coragem para mudar. Consegui, no âmbito do meu trabalho, participar numa série de seminários sobre desenvolvimento profissional. Num deles, uma oradora falou sobre “tornar os sonhos realidade”. O que era muito difícil para mim – até mesmo sonhar com um futuro melhor! Mas algo naquela mensagem me tocou.
Ela pediu-nos que tivéssemos em conta duas questões importantes: “Se pudessem ser, fazer, ou possuir algo, fosse ele o que fosse, sabendo à partida que seria impossível falhar, o que escolheriam? E se pudessem construir a vossa vida ideal, o que teriam a coragem de sonhar?” Naquele momento, a minha vida começou a mudar. Comecei a sonhar.
Imaginei-me a ter coragem de mudar com as crianças para um apartamento só nosso. Começar de novo! Visualizei uma vida melhor para as minhas filhas e para mim. Sonhei em ser uma oradora motivacional para poder inspirar as pessoas do mesmo modo que a orientadora do seminário me tinha inspirado. Vi-me a escrever a minha própria história para dar coragem a outros. Assim sendo, continuei a construir a imagem visual do meu novo sucesso. Visualizei-me a usar um fato muito profissional de cor vermelha, uma pasta de couro na mão e a apanhar um avião. E nisto já extrapolava bastante, uma vez que nessa altura não tinha sequer dinheiro para o fato…
No entanto, eu sabia que era importante preencher o meu sonho com detalhes alusivos aos meus cinco sentidos. Por isso, fui a uma loja de artigos em couro e pus-me ao espelho com uma pasta na mão. Como é que aquilo ficaria, como é que eu me sentiria? Qual seria o cheiro do couro? Experimentei alguns fatos vermelhos e até encontrei a imagem de uma mulher com um, transportando uma pasta e entrando num avião. Pendurei a imagem num sítio onde a pudesse ver todos os dias. Ajudava-me a manter o sonho vivo.
E rapidamente as mudanças chegaram.
Mudei-me com as crianças para um pequeno apartamento. Com apenas 77€ por semana, comíamos muita manteiga de amendoim e deslocávamo-nos num velho carro. Mas, pela primeira vez na vida, sentíamo-nos livres e em segurança. Eu empenhava-me ao máximo na minha carreira de vendedora, sempre concentrada no meu “sonho impossível.”
Então, um dia, atendi o telefone, e a voz do outro lado pediu-me que falasse na conferência anual da companhia a realizar em breve. Aceitei e o meu discurso foi um sucesso. Isto levou-me a uma série de promoções, e acabei coordenadora de vendas a nível nacional. Atualmente, promovo a minha própria equipa de oradores motivacionais e viajo por imensos países à volta do mundo. O meu “sonho impossível” tornou-se realidade!
Acredito que todo o sucesso começa quando abres as tuas ASAS – quando acreditas no teu valor, confias no teu íntimo, cuidas de ti, tens um objetivo e delineias uma estratégia pessoal. E, nesse momento, os sonhos impossíveis tornam-se realidade.
Sue Augustine
J. Canfield, M. V. Hansen, J. R. Hawthorne, M. Shimoff
Chicken Soup for the Woman’s Soul
Health Communications, 1996
(Tradução e adaptação)
O PASSEIO DE IAN

Está um dia perfeito para ir ao parque dar de comer aos patos com a minha irmã mais velha, a Tara. Só que o meu irmão também quer ir connosco.
—Oh, Ian, porque é que não ficas aqui? — pergunto.
O Ian, porém, nem me responde, porque tem autismo. Mas bate com os dedos com força contra a rede da porta e começa a choramingar.
— Tudo bem, Ian. Ele pode vir connosco? — pergunto à minha mãe.
—Vais ter de o vigiar bem. Tens a certeza de que queres fazê-lo? — pergunta ela.
— Claro que sim — respondo.
A Tara também acena.
— Mas és tu que lhe vais dar a mão, Julie— diz-me.
O cérebro do meu irmão não funciona como o das outras pessoas.
O Ian vê as coisas de forma diferente...
Quando passamos pelo restaurante, ele entra para ver a ventoinha do teto a mover--se em círculos lentos, mas não olha para as empregadas, que passam, apressadas, transportando toda a espécie de sanduíches e gelados.
—Vamos tomar uma gasosa!— sugiro.
Mas o Ian mantém os olhos fixos na ventoinha até irmos embora.
O Ian ouve as coisas de uma outra forma...
Quando um camião dos bombeiros passa por nós, com a sirene aos gritos e a buzina a tocar, o meu irmão mal se dá conta. Mas abana a cabeça de um lado para o outro e parece estar a ouvir alguma coisa que não eu consigo ouvir.
— Despacha-te! — peço, puxando-lhe o braço.
O Ian cheira as coisas de um modo diferente...
Na loja de flores da Srª. Potter, pego num ramo de lilases de cheiro adocicado e aproximo-o do rosto dele. O Ian franze o nariz e afasta-se.
Mas quando nos aproximamos dos correios, põe o nariz contra os tijolos quentes e areados e cheira a parede.
—Para com isso!— digo. — Pareces um pateta!
E tiro-o dali, antes que alguém se aperceba. O Ian sente as coisas de maneira diferente...
No lago, apanho uma pena macia e faço-lhe cócegas debaixo de queixo. Ele guincha e afasta a pena. Mas, enquanto a Tara e eu atirámos cereais aos patos, o Ian deita-se no chão com as bochechas espalmadas contra as pedras duras.
— Levanta-te, Ian — digo, pegando-lhe na mão. — Alguém pode tropeçar em ti!
O Ian saboreia as coisas de modo diferente...
Quando passamos pelas barracas de comida, nem sequer olha para as pizas, os cachorros quentes ou os pretzels fofos. Mas procura no meu bolso o saco com os restos dos cereais.
— A Tara e eu não queremos comer cereais ao almoço — digo. — Vem connosco comprar uma piza.
Mas o Ian nem se mexe e mastiga ruidosamente os cereais, um a um. Às vezes, o meu irmão faz-me sentir zangada.
—Eu vou buscar a piza — diz a Tara. — Fica tu aqui com o Ian, Julie.
Sento-me no banco, à espera.
—Senta-te aqui ao meu lado, Ian — peço.
Mas ele bate palmas e não me presta qualquer atenção. Finalmente, a Tara regressa com duas fatias de piza.
—Onde está o Ian? — pergunta.
Olho para o lugar onde o Ian estava, mas ele desapareceu! O meu estômago dá uma reviravolta e, por um momento, não consigo sequer mexer-me.
A Tara corre até junto de uma senhora.
— Não viu um rapazinho de camisola azul? — pergunta.
A senhora abana a cabeça.
— Talvez ele esteja a ver o jogo de beisebol do outro lado do parque— sugere.
Mas o Ian não gosta de beisebol.
Passa um homem com uma menina às cavalitas.
—Não viram um rapaz com ar de perdido? — pergunto, com um nó na garganta.
— Não — diz o homem. — Vamos ouvir o contador de histórias e talvez ele lá esteja também.
Mas o Ian parece não apreciar muito as histórias... A Tara corre de um lado para o outro à procura do nosso irmão. Eu fecho os olhos e tento pensar como ele. O Ian gosta da barraca dos balões, onde uma máquina enorme assobia e faz esticar os balões até ficarem com formas coloridas e esvoaçantes. Gosta da fonte onde pode pôr a cara bem próximo da bica, e ver o fio de água a esguichar diante dos olhos. De repente, o velho sino no centro do parque começa a soar, e lembro-me de que o Ian gosta mais do sino do que qualquer outra coisa.
Corro a toda a velocidade em direção ao sino. E lá está o Ian! Deitado debaixo do sino, a mover o enorme badalo para trás e para a frente. Abraço-o com força, embora ele não queria saber de abraços. Vejo a Tara junto aos baloiços e chamo-a. Vem a correr e abraça-se a nós.
—Vamos para casa pelo caminho que escolheres! — digo ao Ian.
Parámos junto ao lago e deixámo-lo brincar com as pedras. Ele alinha-as numa fila certinha ao longo das margens do caminho. Eu fico de pé, diante dele, para evitar que lhe pisem os dedos. Passámos pela loja de flores da Srª Potter e parámos nos correios. O Ian cheira todos os tijolos que quer e não me importo que alguém o veja.
Quando o Ian para na esquina, e parece estar a ouvir algo que não consigo ouvir, parámos pacientemente e tentámos também ouvir.
No restaurante, observamos juntos a ventoinha até eu ficar tonta.
Quando finalmente chegámos a casa, digo:
— Demos um bom passeio, Ian.
E, por um breve instante, ele olha para mim e sorri.
Laurie Lears
Ian’s walk
Illinois, Albert Whitmann, 1998
(Tradução e adaptação "Contadores de Histórias")
A CHAVE DA FELICIDADE

Deus sentia-se muito só. Para superar a sua solidão, tinha criado uns seres que lhe faziam companhia. Mas esses seres sobrenaturais encontraram a chave da felicidade e fundiram-se com o Divino, que voltou a ficar só e sumido no seu triste sentimento de solidão. Refletiu demoradamente. Era Deus mas não queria estar sozinho. Pensou que tinha chegado o momento de criar o ser humano, mas intuiu que este poderia encontrar a chave da felicidade, que descobriria o caminho até Ele e com Ele se fundiria. Não, não queria ficar só outra vez. Perdurou no seu pensamento e perguntou-se onde poderia esconder a chave da felicidade para que o Homem não a pudesse encontrar. Não era fácil. Primeiro pensou ocultá-la no fundo do oceano, depois numa caverna dos Himalaias, depois noutra galáxia. Mas estes lugares não o satisfaziam. Passou a noite em claro, perguntando-se onde seria o lugar mais segura para esconder a chave da felicidade. Sabia que o ser humano acabaria por descer ao oceano mais abismal e que a chave não estaria segura aí. Também não estaria segura numa gruta dos Himalaias porque, mais cedo ou mais tarde, o Homem escalaria até aos cumes mais elevados e encontrá-la-ia. Nem sequer estaria segura noutra galáxia, já que o Homem chegaria a escalar os vastos universos. Ao amanhecer, continuava a perguntar-se onde ocultá-la. E quando o Sol começava a desvanecer a bruma matutina com os seus raios, de súbito ocorreu-lhe um lugar no qual o ser humano nunca procuraria a chave da felicidade: dentro de si mesmo. Criou então o ser humano e, no seu interior, colocou a chave da felicidade.
CALLE, Ramiro (2010). Os Melhores Contos Espirituais do Oriente.
Lisboa: A Esfera dos Livros.

AS PESCADORAS

Tratava-se de um grupo de pescadoras. Uma vez concluída a faina, fizeram-se ao caminho em direção às suas respetivas casas.
O percurso era longo e, quando a noite começava a cair, desencadeou-se um violento temporal. Chovia tão torrencialmente que era necessário recolherem-se. Avistaram uma casa ao longe e começaram a correr para ela. Bateram à porta e abriu-a uma hospitaleira mulher, que era a dona da casa e se dedicava a cultivar flores.
Ao ver as pescadoras completamente encharcadas, ofereceu-lhes um quarto para que passassem calmamente a noite. Era uma estância ampla, onde havia uma grande quantidade de cestos com bonitas e variadas flores, arrumadas para serem vendidas no dia seguinte.
As pescadoras estavam esgotadas e preparavam-se para dormir. Todavia, não eram capazes de conciliar o sono e começaram a queixar-se do aroma das flores. «Que pivete! Não se aguenta este cheiro. Assim não há quem durma.»
Então, uma delas teve uma ideia e sugeriu-a às colegas:
- Não há quem aguente este pivete, amigas, e, se não fizermos alguma coisa, não vamos conseguir pregar olho em toda a noite. Peguem nos cestos do peixe e usem-nos como almofada. Assim devemos conseguir evitar este desagradável cheiro.
As mulheres seguiram a sugestão da sua colega. Pegaram nos cestos malcheirosos do peixe e apoiaram as suas cabeças sobre os mesmos. Um minuto depois, já todas dormiam profunda e placidamente.
CALLE, Ramiro (2010). Os melhores contos espirituais do Oriente.
Lisboa: A esfera dos livros.
Lisboa: A esfera dos livros.
A SENHORA DOS LIVROS

A minha família e eu vivemos num sítio pertinho do céu. A nossa casa fica situada num local tão alto que quase nunca vemos ninguém, a não ser falcões a planar e animais a esconder-se por entre as árvores.
Chamo-me Cal e não sou nem o mais velho nem o mais novo dos irmãos. Mas, como sou o rapaz mais velho, ajudo o meu pai a lavrar e a ir buscar as ovelhas quando, às vezes, elas se escapam. Também me acontece trazer a vaca para casa ao pôr-do-sol, e ainda bem que o faço. É que a minha irmã Lark passa o dia todo a ler.
O meu pai diz sempre que nunca se viu uma rapariga tão super-leitora... Cá comigo não é assim. Não nasci para ficar sentado e quieto a olhar para quatro garatujas. E não acho graça nenhuma a que a Lark se arme em professora, porque a única escola que existe fica a quilómetros daqui, e ela dificilmente lá irá chegar. Por isso é que ela quer ensinar-nos. Só que, a mim, a escola não me interessa!
Sou sempre o primeiro a ouvir o ruído dos cascos e a ver a égua alazã da cor do barro. Sou o primeiro a dar-me conta de que o ginete não é um homem, mas uma senhora com calças de montar e cabeça bem erguida.
É claro que recebemos a forasteira de braços abertos, porque pessoa mais simpática não há. Depois de tomar chá, põe os alforges em cima da mesa e até parece ouro o que tira de lá de dentro. Os olhos da Lark põem-se a brilhar como moedas e a minha irmã não consegue ter as mãos quietas, como se quisesse apropriar-se de um tesouro.
Na realidade, o que a senhora traz não é tesouro nenhum, pelo menos a meu ver. São livros! Um monte de livros que ela, sozinha, carregou pela encosta acima. Um dia inteiro a cavalo para nada! É o que eu digo! Porque, se ela os quisesse vender, como faz o caldeireiro, que anda por aí com panelas, sertãs e outras coisas, veria logo que nós nem um centavo sequer temos para gastar… Muito menos em livros velhos e inúteis!
O meu pai põe-se a fitar a Lark e pigarreia. Então propõe à Senhora dos livros:
— Fazemos um contrato. Em troca de um livro dou-lhe uma saca de framboesas.
Aperto bem as mãos atrás das costas.
Quero falar, mas não me atrevo. As framboesas, fui eu que as apanhei… Para fazer uma tarte, não para trocar por um livro! Quando vejo a senhora recusar, até pasmo. Não aceita uma saca de framboesas, nem um molho de legumes, nem nada do que o meu pai lhe quer oferecer. Os livros não custam dinheiro; são de graça, como o ar. Ainda por cima, dentro de quinze dias, voltará para os trocar por outros! Cá para mim, tanto se me dá que a Senhora traga livros ou que não encontre o caminho até nossa casa. O que me espanta é que, mesmo que chova a cântaros, haja neve ou faça frio, ela volte sempre!
Certo dia de manhã, a terra acordou mais branca do que a barba do nosso avô. O vento uivava como lince em plena escuridão e apertámo-nos todos diante da lareira, pois, num dia desses, ninguém faz nada. Com um tempo assim, até os animaizinhos da floresta se deixam ficar bem aconchegados.
De repente, ouviram-se umas pancadinhas na janela. Era a Senhora dos livros, abrigada até à ponta dos cabelos! Para não apanharmos frio, fez a troca através da porta entreaberta. E quando o meu pai lhe pediu que dormisse em nossa casa, não se deixou convencer:
— A égua leva-me de volta — respondeu.
Fiquei de boca aberta a vê-la afastar-se. Pensei que era uma pessoa muito corajosa e tive vontade de saber por que é que a Senhora dos livros se arriscava a apanhar uma constipação ou coisa bem pior.
Escolhi um livro com letras e desenhos e pedi à minha irmã Lark:
— Ensina-me o que está aqui, por favor.
A minha irmã não se riu nem troçou de mim.
Arranjou um lugar aconchegado e, em voz baixa, pôs-se a ler.
O meu pai costuma dizer que nos sinais da natureza está escrito se o inverno vai durar muito ou pouco. Este ano, todos os sinais anunciaram neve bem abundante e um frio tremendo. Mas, embora todos os dias ficássemos em casa apertados como sardinhas em lata, não me importei nada. Pela primeira vez.
Só quase na primavera é que a Senhora dos livros pôde voltar a visitar-nos. A minha mãe ofereceu-lhe um presente, a única coisa de valor que lhe podia dar: a sua receita de tarte de framboesa, a melhor do mundo.
— Não é muito, bem sei, para o grande esforço que faz — disse a minha mãe.
Em seguida, baixou a voz e acrescentou com orgulho:
— E por ter conseguido arranjar dois leitores onde apenas havia um!
Baixei a cabeça e esperei pelo fim da visita para comentar:
— Também gostaria de ter alguma coisa para lhe oferecer.
A Senhora dos livros virou-se e fitou-me com os seus grandes olhos negros:
— Vem cá, Cal — disse, com muita doçura.
Quando me aproximei dela, pediu:
— Lê-me alguma coisa.
Abri o livro que tinha entre as mãos, mesmo acabadinho de chegar. Dantes, eu pensava que eram quatro garatujas, mas agora já sei ver o que contém. E li um pouco em voz alta.
— Esta é que é a minha prenda! — disse a Senhora dos livros.
♦♦♦♦♦♦
Nota da autora
Este livro é inspirado numa história real, e relata o trabalho incansável das bibliotecárias a cavalo, conhecidas como «as Senhoras dos livros» entre os Apaches do Kentucky.
O Projeto da Biblioteca a Cavalo foi criado nos anos trinta do século XX, no contexto do New Deal do Presidente Franklin D. Roosevelt, com a finalidade de levar os livros às zonas isoladas onde havia poucas escolas e nenhuma biblioteca. No alto das montanhas do Kentucky, os caminhos eram amiúde simples leitos de riachos ou carreiros acidentados. De cavalo ou de mula, as bibliotecárias percorriam a mesma rota árdua, cada duas semanas, carregadas de livros, independentemente do tempo. Para demonstrar a sua gratidão por algo que não custava dinheiro, “como o ar”, as famílias só podiam dar-lhes do que tinham: legumes das hortas, flores ou frutos silvestres, e até apreciadas receitas transmitidas de geração em geração.
Embora também houvesse alguns homens na Biblioteca a Cavalo, geralmente eram as mulheres que o faziam, numa época em que a maioria das pessoas acreditava que o lugar da mulher era em casa. As bibliotecárias a cavalo revelavam uma resistência e uma entrega extraordinárias. Ganhavam muito pouco, mas sentiam-se orgulhosas do seu trabalho: levar o mundo exterior ao povo apache e, em muitas ocasiões, converter num leitor quem antes nunca tinha visto nenhuma utilidade em “quatro garatujas”.
No Kentucky, os leitos dos riachos e os carreiros acabaram por se transformar em estradas. Os cavalos e as mulas deram lugar a carros-biblioteca, que são as bibliotecas ambulantes nos dias de hoje. Dedicados à sua tarefa, bibliotecárias e bibliotecários continuam a levar livros a quem deles necessita…
Heather Henson
La señora de los libros
Barcelona, Editorial Juventud, 2010
(Tradução e adaptação)
ENVIADO DO CÉU
Passei por um período em que achava que toda a gente se aproveitava de mim, e não me sentia nada contente. Parecia que todas as pessoas a quem decidira mostrar amabilidade ultrapassavam os seus limites. Lutava contra a ideia de que estava a praticar o bem só porque Deus dizia que era isso que devíamos fazer, mas, se o meu coração não ficava feliz, estaria realmente a fazer um favor a Deus? Não estaria a minha atitude errada a anular o bem?
Tinha passado muitas horas e gasto muitos dólares com crianças desfavorecidas do nosso bairro, mas, a certa altura, a avó dessas crianças, com quem elas viviam, pareceu querer aproveitar-se de mim. Senti-me irritada com ela e com o facto de os netos não parecerem ser uma prioridade na sua vida. Recebera um telefonema seu, quando o Natal se aproximava, em que me falara de uma menina que ela conhecia e que não ia ter um bom Natal, pedindo-me que lhe comprasse alguma coisa.
Fiquei a matutar naquele pedido. Não suportava o seu atrevimento de me telefonar e pedir que fizesse alguma coisa por alguém que eu nem sequer conhecia. «Eu já não fazia o bastante pelos netos? Teria ainda de me ocupar de outra pessoa?» E nem sequer tinha muito dinheiro.
Uns dias mais tarde, enquanto fazia compras, vi uma caixa com duas bonecas, uma com cabelo escuro e outra com cabelo claro. Pensei na referida menina. Comprei a caixa porque me pareceu muito barata, mas não me senti contente. Atirei-a para o carrinho, resmungando, mal-humorada, levei-a para casa e embrulhei-a. Um pouco antes do Natal, entreguei-a à avó, e nunca mais ouvi nada acerca das bonecas. Tanto quanto sei, a rapariga nunca as recebeu, ou a avó disse-lhe que era uma oferta sua.
Quando eu era pequena, não me deixavam ver a minha avó paterna, que nunca deixava de nos comprar presentes de Natal e de os entregar à minha avó materna. A minha avó materna mudava os nomes das etiquetas, para dizer que eram dela. Quando atingi a idade adulta, descobri que a minha boneca preferida na infância fora oferecida pela minha outra avó. Tinha a certeza de que se tratava de uma situação semelhante. «Bem», pensei, «vamos ver o que acontece.» E assim fiz.
♥♥♥
Cerca de um ano e meio depois deste episódio, passeava com o meu cão quando vi uma menina com uns sete anos a brincar num pátio.
Quando passei por ela, gritou:
— Eu conheço esse cão!
Disse-lhe que vivia ao virar da esquina e que, às vezes, passava por ali com ele. Ocorreu-me que ela talvez conhecesse as crianças do meu bairro. Diziam-me sempre que tinham uma amiga chamada Joan (não é o seu verdadeiro nome), que vivia no nosso quarteirão. Perguntei à menina se o seu nome era Joan.
— Não, esse é o nome da minha avó — respondeu.
Então fez-se-me luz. Perguntei-lhe se conhecia Aaron, Nick e Melanie, e ela respondeu afirmativamente. Fiquei mais curiosa e interroguei-me se não seria a menina desconhecida para a qual comprara as bonecas. Perguntei-lhe em seguida:
— Não no Natal passado, mas no anterior a esse, recebeste duas bonecas?
— Oh, sim, Lucy tem cabelo claro e Debbie tem cabelo escuro. Agora estão a dormir lá dentro — replicou.
— Foi só isso que recebeste nesse ano? — perguntei.
— Creio que recebi outras coisas, mas não me lembro — disse ela.
— Quem te deu as bonecas? — perguntei.
— A avó do Aaron — respondeu.
Ah, ah! Era isso... a avó ia ficar com os louros. Para provar a mim mesma que estava certa, perguntei:
— Ela disse quem é que tas ofereceu?
E então Deus, de um modo misterioso, mostrou-me que aquilo que dou nunca é demais – mesmo se o fizer com um coração amargurado.
Fiquei com um nó na garganta quando a menina me respondeu:
— Ela disse que tinha sido um anjo.
Mickey Bambrick
Jack Canfield, Mark Victor Hansen
Canja de galinha para a alma – O tesouro do Natal
Mem Martins, Lyon Edições, 2002
(Adaptação)
UM SEGREDO PARA A MINHA MÃE
Enquanto espero pelas festas, penso em todos os Natais calorosos e maravilhosos quando era criança, e dou-me conta de que um sorriso me ilumina a face. Na verdade, são tempos que vale a pena recordar! Contudo, reparo que, à medida que fui ficando mais velha, as memórias do Natal tornaram-se menos vívidas e foram-se transformando numa época triste e deprimente... até ao ano passado. Foi nessa data que creio ter recuperado a alegria própria da infância. A alegria que eu sentia quando era criança…
♥♥♥
Todos os anos me canso à procura de algo para oferecer à minha mãe no Natal. Mais um roupão e uns chinelos, um perfume, umas camisolas? Tudo prendas interessantes, mas que não dizem Amo-te da maneira que deviam dizer. Desta vez, queria algo de diferente, algo que ela recordasse para o resto da vida… Algo que lhe devolvesse o sorriso na cara e a ligeireza no andar. A minha mãe vive sozinha e, por muito que eu queira passar algum tempo com ela, só consigo, com o meu horário, fazer-lhe visitas esporádicas. Portanto, tomei a decisão de ser o seu Pai Natal secreto. Mal sabia eu como acertara!
Saí e comprei todo o tipo de pequenas prendinhas e, depois, passeei-me pelas zonas mais caras do centro comercial. Arranjei pequenas ninharias, coisas que eu sabia que apenas a minha mãe iria apreciar. Levei-as para casa e embrulhei-as, cada uma de maneira diferente. Depois, fiz um cartão para cada uma delas. Tudo de acordo com a canção “The twelve days of Christmas.” [“Os doze dias de Natal”]. E dei início à minha aventura.
♥♥♥
O primeiro dia foi tão emocionante! Deixei a prenda junto à porta do apartamento dela. Depois, apressei-me a telefonar-lhe, fingindo que era só para saber como estava de saúde. A minha mãe estava radiante! Alguém lhe tinha deixado ficar uma prenda e assinado “Pai Natal secreto.”
No dia seguinte, a cena repetiu-se. Quatro ou cinco dias depois, fui a casa dela, e o meu coração quase rebentou de alegria. Tinha disposto todas as prendas em cima da mesa da cozinha e andava a mostrá-las aos vizinhos. Durante todo o tempo da minha visita, a minha mãe não parou de falar no admirador secreto... Estava no sétimo céu!
Telefonava-me todos os dias com notícias da nova prenda que tinha encontrado ao acordar! Tinha decidido “apanhar” a pessoa responsável por tudo aquilo e ia dormir no sofá, com a porta completamente aberta. Por isso, nesse dia, tive de deixar a prenda mais tarde, o que a fez ficar aflita: será que as prendas tinham acabado?
O último dia era um sábado e o cartão dizia-lhe para se vestir e que devia ir até ao Applebee’s para jantar. Era sinal de que iria, finalmente, conhecer o seu Pai Natal secreto. O cartão dizia, também, que pedisse à sua filha Susan para a levar lá (esta sou eu). Acrescentava, ainda, que iria reconhecer o Pai Natal secreto pelo laço vermelho que ele usaria.
Fui buscá-la e lá fomos nós. De pois de chegarmos e de nos instalarmos, a minha mãe olhou em volta. Perguntava-se, sem dúvida, quando iria conhecer o seu Pai Natal secreto… Devagar, tirei o casaco e exibi o laço vermelho. A minha mãe começou a chorar. Estava mais feliz do que nunca!
Senti-me tão contente quando tudo acabou!
E lembrei-me de uma coisa muito importante: a minha mãe ensinara-me, em criança, que era melhor dar do que receber. Por isso, todos os anos em que estive triste durante as festas, foi porque procurei mais receber do que dar.
Agora, podia, finalmente, sentir-me feliz.
Susan Spence, 2008
(Tradução e adaptação)
A ÁRVORE DE NATAL DE SEXTA-FEIRA

Enquanto vestia o pijama, Brian perguntou:
— Mamã, os outros meninos dizem que vamos ter uma árvore de Natal cá em casa. O que é uma árvore de Natal?
Aconchegados no pequeno quarto da casa de abrigo cristã para mulheres e crianças, Jenny Henderson abraçou os filhos, Brian e Daniel, de seis e três anos, respetivamente.
— É uma árvore bonita que ajuda as pessoas a sentirem-se felizes com o nascimento de Jesus. As pessoas costumam decorá-la no Natal e colocar, debaixo dela, presentes que compram umas para as outras.
Daniel enrugou o nariz:
— O que é “decorar”? E o que é o “Natal”?
A mãe suspirou. Durante todos os anos que vivera com o pai dos miúdos, ele sempre recusara celebrar fosse o que fosse e por muito que ela lhe pedisse. Não se celebravam aniversários, feriados, e muito menos o Natal. Daí que os rapazes nunca tivessem soprado velas de anos, visto televisão, decorado uma árvore de Natal, pendurado meias, comido um bom jantar de Natal, ou aberto quaisquer presentes.
Quando a casa dos Henderson se tornou demasiado triste por causa das discussões e das atitudes de controlo e de dominação, Jenny foi viver com os filhos para uma casa de abrigo. Agora, podiam celebrar tudo o que quisessem, incluindo o Natal, juntamente com as outras mães e crianças que lá viviam. Jenny abraçou Daniel:
— Vou aconchegar-vos bem debaixo dos cobertores e contar-vos uma história maravilhosa sobre Jesus e o Natal.
E contou-lhes, com todos os detalhes, a história da primeira noite de Natal. Depois, falou-lhes da decoração da árvore, da troca de presentes, e da gratidão que devemos a Deus pelo nascimento do Menino Jesus.
— Também quero amar o menino Jesus! — exclamou Brian. — E decorar uma árvore de Natal!
—Eu também quero! — pediu Daniel. —Diz que sim, mamã!
Jenny riu e disse:
— A Sra. Naples, a diretora da casa, disse que, neste sábado, vamos todos fazer uma festa para decorar a árvore de Natal, e que todas as crianças, incluindo vocês os dois, vão poder ajudar.
Brian e Daniel ficaram tão excitados que tiveram imensa dificuldade em adormecer. E a primeira pergunta que Daniel fez, quando acordou na manhã seguinte, foi:
—Já é sábado? Já podemos decorar a árvore?
Quando chegou a sexta-feira, ouviu-se uma exclamação:
—A árvore já está aqui!
Todas as crianças se precipitaram pelas escadas abaixo e viram três homens a carregar a árvore mais bonita que alguma vez tinham visto. Era tão grande que ia ficando presa na porta. Os homens colocaram-na num pequeno pedestal e todos se juntaram em torno dela. Quase chegava ao teto!
— Podemos decorá-la já? — perguntou Daniel.
A Sra. Naples riu:
—Lembra-te de que ainda é só sexta-feira, Daniel. Vamos decorá-la só amanhã.
Nesse momento, o telefone tocou e a diretora foi atender. Era o pai dos rapazes. Uma vez que nunca tinha sido violento com os filhos, o Sr. Henderson tinha autorização para vir à casa de abrigo buscá-los, para irem fazer visitas em conjunto. Ficou combinado que viria no dia seguinte, justamente à hora em que a árvore ia ser decorada.
É óbvio que os rapazes gostavam do pai. Contudo, o seu desejo de decorar a sua primeira árvore de Natal era tão grande que perguntaram à Sra. Naples se podiam colocar um só ornamento que fosse na sexta-feira. A diretora olhou primeiro para a belíssima árvore e, em seguida, para os dois irmãos e para as outras crianças.
—O que acham, meninos? Acham que este pedido é justo? E se votássemos?
—Vamos votar! — pediram todos.
Pouco depois, todos ajudavam a carregar caixas inteiras de ornamentos, que colocaram em torno da árvore despida. Virando-se para os dois irmãos, a Sra. Naples disse:
— Rapazes, têm uma hora para decorar a árvore como quiserem. Podem tirar o que quiserem das caixas, sem a nossa ajuda. Amanhã, quando estiverem fora, tiramos os ornamentos para que as outras crianças possam ser elas mesmas a colocá-los. Mas hoje é a vossa noite.
A diretora mandou embora as outras crianças e deixou os dois irmãos sozinhos.
Brian e Daniel nunca se tinham sentido tão felizes na vida. Pegaram em cada bola brilhante, em cada grinalda cintilante, em cada conjunto de sincelos tão cuidadosamente, como se fossem feitos de diamantes, e colocaram-nos na árvore com todo o carinho. Algum tempo depois, a Sra. Naples passou pelo átrio para ver como os irmãos se estavam a sair. Em torno dos ramos mais baixos, e tão alto quanto os bracinhos lhes permitiam, Brian e Daniel tinham colocado ornamentos alegres em azul, vermelho, verde, dourado e prateado, aos quais juntaram fiadas de grinaldas e muitos conjuntos de sincelos.
Contudo, em vez de estarem a admirar o seu trabalho, tinham-se ajoelhado e rezavam, de olhos fechados. Brian dizia: “Muito obrigado, querido Jesus, por teres nascido no Natal. E por nos teres deixado decorar a árvore. É o melhor presente de Natal que alguma vez tive.”
Daniel acrescentou: “Jesus, quando o nosso pai vier amanhã e vir a nossa bela árvore, faz com que ele goste dela e que não se zangue. Faz com que ele queira gostar de ti.”
Brian pensou por um momento e disse: “Tens razão. Esse é que seria o melhor presente de Natal”.
Bonnie Compton Hanson
URL da imagem: http://www.clickgratis.com.br/_
upload/scraps/2010/12/14/arvore-de-natal-17277.jpeg
O VERDADEIRO VALOR DO ANEL

Era uma vez um rapaz que procurou um sábio em busca de ajuda.
— Venho até cá, mestre, porque me sinto tão tacanho que não tenho vontade de fazer nada. Dizem-me que não presto, que não faço nada bem, que sou lento e estúpido. Como posso melhorar? Que posso fazer para que as pessoas me valorizem mais?
O mestre, sem olhar para ele, disse:
— Lamento muito, rapaz, mas não posso ajudar-te. Primeiro, tenho de resolver o meu próprio problema. Talvez depois... — E, fazendo uma pausa, acrescentou: — Se tu me quiseres ajudar, eu poderia resolver este assunto mais depressa e talvez depois te possa ajudar.
— Com todo o prazer, mestre — gaguejou o rapaz, sentindo novamente que estava a ser desvalorizado e que as suas necessidades eram adiadas.
— Bom — continuou o mestre, tirando um anel que trazia no dedo mindinho da mão esquerda. Dando-o ao rapaz, acrescentou: — Pega no cavalo que está lá fora e vai ao mercado. Tenho de vender este anel porque preciso de pagar uma dívida. Tens de obter por ele a maior quantia possível e não aceites menos do que uma moeda de ouro. Vai e volta com a moeda o mais depressa que puderes.
O jovem pegou no anel e partiu. Assim que chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos comerciantes, que o fitavam com interesse até o jovem dizer quanto queria por ele.
Sempre que o rapaz mencionava a moeda de ouro, alguns riam-se, outros viravam-lhe a cara e só um velhinho foi suficientemente amável e se deu ao trabalho de lhe explicar que uma moeda de ouro era demasiado valiosa para ser trocada por um mero anel. Alguém, desejoso de ajudar, ofereceu-lhe uma moeda de prata e um recipiente de cobre, mas o jovem tinha ordens para não aceitar menos do que uma moeda de ouro e, como tal, rejeitou a oferta.
Depois de oferecer a jóia a todas as pessoas que se cruzaram com ele no mercado, que foram mais de cem, e abatido pelo seu fracasso, o rapaz montou no cavalo e regressou para junto do sábio.
Ele ansiava por uma moeda de ouro para entregar ao mestre e libertá-lo da sua preocupação, de modo a poder receber finalmente o seu conselho e ajuda.
Entrou no quarto do sábio.
— Mestre — disse — lamento muito. Não é possível fazer o que me pedes. Talvez tivesse conseguido arranjar-te duas ou três moedas de prata, mas não creio conseguir enganar as pessoas quanto ao verdadeiro valor do anel.
— O que disseste é muito importante, meu jovem amigo respondeu o mestre, sorridente.
— Primeiro, temos de conhecer o verdadeiro valor do anel. Torna a montar no teu cavalo e vai ao ourives. Quem melhor do que ele para nos dizer o valor? Diz-lhe que gostavas de vender a jóia e pergunta-lhe quanto te dá por ela. Mas não importa o que ele te ofereça: não lho vendas. Volta com o meu anel.
O jovem tornou a cavalgar.
O ourives inspecionou o anel à luz da candeia, observou-o à lupa, pesou-o e respondeu ao rapaz:
— Diz ao mestre, rapaz, que, se o quiser vender agora mesmo, não lhe posso dar mais do que cinquenta e oito moedas de ouro pelo seu anel.
— Cinquenta e oito moedas?! — exclamou o jovem.
— Sim — replicou o ourives. — Eu sei que, com tempo, poderíamos obter por ele cerca de setenta moedas, mas se a venda é urgente...
O jovem correu, emocionado, para casa do mestre, ansioso por lhe contar a novidade.
— Senta-te — disse o mestre depois de o ouvir. — Tu és como esse anel: uma jóia valiosa e única. E, como tal, só podes ser avaliado por um verdadeiro perito. Por que é que vives à espera que qualquer pessoa descubra o teu verdadeiro valor?
E, dito isto, tornou a pôr o anel no dedo mindinho da sua mão esquerda.
Jorge Bucay
Deixa-me que te conte
Ed. Pergaminho, 2004
UMA GULOSEIMA PARA A NOITE DAS BRUXAS

O saco das guloseimas estava pronto e sentia-me ansiosa por ver chegar as crianças marotas. Mas, na manhã da Noite das Bruxas tive um ataque de artrite muito forte e, à tardinha, mal me conseguia mexer. Como sabia que ia ser difícil atender todas as vezes que batessem à porta, decidi deixar o saco pendurado da parte de fora da porta e ver, na sala às escuras, o desfile das crianças mascaradas.
A primeira a chegar foi uma bailarina com três fantasminhas. Cada um pegou numa guloseima, excepto o último, que tirou do saco uma mão cheia. Foi então que ouvi a bailarina ralhar: “Não podes tirar mais do que uma!” Fiquei contente por a criança mais velha agir como se fosse a consciência do pequeno.
Seguiram-se princesas, astronautas, esqueletos e extraterrestres. Apareceram mais crianças do que as de que eu estava à espera. Como as guloseimas estavam a acabar, preparei-me para desligar a luz da entrada. Detive-me ao reparar que tinha mais quatro visitas. Os três mais velhos meteram a mão no saco e retiraram um chocolate cada. Sustive a respiração, esperançada de que ainda restasse um para uma bruxinha. Mas, quando ela retirou a mão, tudo o que segurava era apenas uma simples goma de laranja.
Os outros chamaram:
— Emily, despacha-te! Não há ninguém em casa para te dar mais guloseimas.
Mas Emily deixou-se ficar mais um pouco. Meteu a goma no saco e, imóvel, ficou a olhar para a porta. Depois, disse:
— Obrigada, casa. Gosto muito da goma de laranja.
E correu a juntar-se aos companheiros.
Uma bruxinha querida tinha-me lançado um feitiço.
Evelyn M. Gibb
J. Canfield; M. V. Hansen; J. Read Hawthorne; M. Shimoff
Second Chicken Soup for the Woman’s Soul
Florida, HCI, 1998
(Tradução e adaptação)
A HISTÓRIA DE RUBY BRIDGES
A nossa filha Ruby deu-nos uma grande lição, ao tornar-se alguém que ajudou a mudar o nosso país. Tornou-se parte da nossa história, tal como acontece com os generais e os presidentes. À semelhança deles, também Ruby foi uma líder, porque conduziu negros e brancos a um maior entendimento.
(Testemunho da mãe de Ruby)
Ruby Bridges nasceu numa pequena cabana perto de Tylertown, no Mississipi.
― Éramos pobres, muito pobres ― recorda ela. ― O meu pai trabalhava nas colheitas. Havia alturas em que tínhamos muito pouco para comer. Quando os donos das terras começaram a usar máquinas para facilitar as colheitas, o meu pai ficou sem emprego e tivemos de mudar de terra. Penso que tinha quatro anos quando partimos.
Em 1957, a família mudou-se para Nova Orleães. O pai arranjou emprego como porteiro e a mãe cuidava das crianças durante o dia. Depois de os aconchegar na cama à noite, ia esfregar o soalho de um banco. Iam à igreja todos os domingos.
Naquele tempo, as crianças brancas e as negras frequentavam escolas separadas em Nova Orleães. As crianças negras não tinham direito ao mesmo tipo de educação das brancas. O que era injusto e ia contra a Constituição. Em 1960, um juiz decidiu que quatro meninas negras frequentariam duas escolas primárias para brancos. Três das meninas foram para a Escola McDonogh 19. Ruby Bridges, então com seis anos, foi para a Escola William Frantz.
Os pais de Ruby estavam felizes por a filha poder participar num evento tão importante da história americana. No primeiro dia de escola de Ruby, uma multidão de brancos enfurecidos juntou-se à porta do edifício. Alguns traziam tabuletas nas quais diziam que não queriam crianças negras numa escola branca. Insultaram a menina e quiseram mesmo bater-lhe. Nem a cidade nem a polícia estatal ajudaram Ruby. Foi então que o Presidente dos Estados Unidos ordenou que guardas federais armados acompanhassem Ruby até à escola.
E assim, todos os dias, durante meses, Ruby teve aulas neste ambiente. Ia sempre para a escola escoltada por guardas federais, munida de uma lancheira e caminhando devagar. Quando se aproximava da escola, via logo a multidão que fazia piquete à porta do edifício. Homens, mulheres e crianças gritavam contra ela e queriam empurrá-la. Apenas a presença dos guardas e a ameaça da prisão os impedia de lhe fazerem mal.
Ruby apressava-se a entrar na escola, sem dizer palavra.
Os brancos da vizinhança recusaram-se a enviar os filhos para a escola. Quando Ruby entrava no edifício, só lá estavam ela e a professora, Mrs. Henry. Não havia crianças com quem aprender, brincar ou almoçar. Mas todos os dias Ruby entrava na sala com um grande sorriso, e preparava-se para aprender.
― Era muito bem-educada e trabalhadora ― lembra a professora. ― Gostava de estar na escola. Não parecia nervosa, irritadiça ou assustada. Parecia-se com qualquer criança normal e relaxada que eu ensinara.
Ruby começou assim a aprender a ler e a escrever numa sala da aula vazia e numa escola vazia.
― Às vezes perguntava-me como ela conseguia ― continua Mrs. Henry. ― Como passava por aquela multidão todos os dias e conseguia entrar na escola de uma forma tão descontraída.
A professora fazia-lhe perguntas para averiguar o verdadeiro estado de espírito da criança e Ruby sempre lhe assegurava que se sentia bem. Mrs. Henry decidiu esperar para ver se haveria alguma alteração no comportamento da sua aluna. Se esta, eventualmente, revelava desgaste ou queria desistir da escola.
♣♣♣
Certa manhã, algo de diferente se passou. A professora estava à janela a ver Ruby dirigir-se à escola, quando, de repente, a menina estacou e se dirigiu à multidão vociferante. A senhora Henry perguntou-se o que estaria a sua aluna a dizer. A multidão parecia querer matá-la. Os guardas estavam assustados e queriam que Ruby entrasse na escola o mais depressa possível. Mas esta só o fez depois de dizer tudo o que tinha a dizer.
Quando entrou na sala de aula, a professora contou-lhe que a observara da janela e perguntou-lhe o que dissera àquelas pessoas. Ruby ficou agastada.
― Eu não falei com elas.
― Mas, Ruby, eu vi os teus lábios a mexer.
― Eu não estava a falar com elas, estava a pedir por elas.
Quando as aulas terminaram naquele dia, Ruby saiu por entre a multidão, como de costume.
Depois de ter andado alguns quarteirões e de se ter distanciado da turba, a menina parou para repetir o pedido que fazia todos os dias...
♣♣♣
Nesse mesmo ano, dois rapazes brancos começaram a frequentar a escola de Ruby. Os pais estavam cansados de os ver metidos em sarilhos, em vez de estarem na escola a aprender. A multidão enfureceu-se com a presença deles mas, em breve, outros se lhes juntaram.
Um dos pais disse:
― Temos estado a deixar que algumas pessoas roubem o direito dos nossos filhos à educação, ao quererem fazer justiça pelas suas próprias mãos. Temos de lutar ao lado da lei e defender o direito dos nossos filhos à educação.
E muitas crianças começaram a frequentar a escola.
Quando Ruby estava no segundo ano, a multidão desistiu de se manifestar e de desafiar a ordem do juiz para acabar com a segregação racial nas escolas. Depois de frequentar a escola primária, Ruby frequentou também a secundária.
Hoje é casada com um empreiteiro e tem quatro rapazes. Empresária de sucesso, criou a Ruby Bridges Educational Foundation, para fomentar o envolvimento dos pais na educação dos filhos.
Robert Coles; George Ford
The Story of Ruby Bridges
New York, Scholastic, Inc., 2004
(Tradução e adaptação)
O SORRISO NO ELEVADOR

Num tempo em que os homens tinham desaprendido de sorrir, apareceu, certo dia, uma menina que tinha um sorriso tão simpático que uma pessoa até sentiria calor no coração, se o riso e a alegria não tivessem sido expulsos há tanto tempo da Terra.
Não se ganhava nada com eles, diziam, e, hoje em dia, quem é que tem alguma coisa para dar?
Mas, um belo dia, sem nada o deixar antever, apareceu aquela menina no elevador…
A princípio, ninguém reparou, tão preocupadas estavam as pessoas consigo mesmas.
Nem sequer Tomás, que naquele dia regressava da escola. Seguia no elevador, sério, a refletir, quando, de repente, ouviu a menina perguntar:
— Também sabes rir?
Admirado, Tomás virou-se.
— Já não rio desde os quatro anos — resmungou.
— Porquê? — perguntou a menina.
— Rir não serve de nada. Não vale um cêntimo. Aprende-se isso logo no infantário.
Ao entrar mais tarde no elevador com a mãe, Tomás voltou a encontrar a menina.
— Olá! — disse ela com um sorriso radiante.
— Olá — balbuciou Tomás, envergonhado.
E subiram calados.
Mas como a menina não deixava de sorrir, Tomás também não conseguiu por fim conter um sorriso.
Pela primeira vez! Mas a mãe logo ficou muito assustada.
— Pára com isso! — ralhou-lhe ela. — Não temos nada para dar!
Tomás assustou-se e fez uma cara séria.
Mas não conseguia esquecer o sorriso da menina no elevador.
Quando, na manhã seguinte, voltou a encontrá-la, ficou tão satisfeito que esboçou um tímido sorriso.
— Mas tu sabes rir! — exclamou a menina, radiante.
Tomás ficou tão contente que até sentiu umas coceguinhas pelas costas acima.
Desta vez sorriu, extasiado, e as cócegas então é que não paravam… Nunc
a tivera uma sensação daquelas! Mas era uma sensação tão boa que ele agora sorria sem parar na rua, no autocarro, na escola, na padaria. E Tomás tinha um sorriso tão amável que as pessoas não conseguiam deixar de responder com outro sorriso. E como elas sentiam de repente um formigueiro, também não conseguiam parar de sorrir!
Nesse dia, Tomás voltou alegremente para casa.Estava todo contente: iria voltar a ver a menina! Mas quando, a sorrir, abriu a porta do elevador, só encontrou alguns vizinhos … que lhe sorriram, hesitantes. A menina já lá não estava e nunca mais a viu…
Só tinha ficado aquela sensação agradável de formigueiro.
E a menina?
Ora bem, caso alguma vez a encontres no elevador, já sabes…
Elke Bräunling
Da wird dia Angst ganz klein
Limburg, Lahn Verlag, 1998
(Tradução e adaptação)
URL da imagem:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWFxU8PDae_Lzad1unvevmayG3_z1ibgYsgdBias9gqztJS7jh-y2EWBmpeJon8-brZlXJ0iZQ8Qg3BZSbd4qWyXzF7V_l9slRPmc2l6GkLYVebIxXSMIbXjh9QqcqsweEG1hhdHwxf99j/s1600/menina_sorrindo.jpg
UMA NOTA DE SABEDORIA

Ninguém sabe dizer o que aconteceu com Kákua, depois que ele deixou o Palácio Imperial.
Diz a história que Kákua foi o primeiro japonês que estudou Budismo Zen na China.
Nunca viajou; meditava apenas.
Sempre que o encontravam, pediam-lhe que saísse a pregar. Mas ele dizia meia dúzia de palavras e desaparecia para outro ponto da floresta, tornando-se mais difícil encontrá-lo.
Um dia, tendo voltado ao Japão, o Imperador pediu-lhe que pregasse o Budismo Zen a ele próprio e a toda a sua corte.
Kákua ficou de pé, muito calado, diante do Imperador, depois de ouvi-lo; tirou das dobras do seu manto uma flauta que ali tinha escondida e soprou nela apenas uma nota. Inclinou-se, depois, profundamente, em saudação ao Imperador e foi-se embora.
Eis o que diz Confúcio: “Não ensinar um homem já maduro é desperdiçar o homem. Ensinar um homem ainda não maduro é desperdiçar palavras.”
Anthony de Mello
O canto do pássaro Lisboa,
Ed. Paulinas, 1998
ALEXANDRE E OS SEUS AMIGOS DO DESERTO

Alexandre vivia numa casinha de adobe à beira da estrada perdida no meio do deserto. Ao lado, havia um poço e uma hélice movida a vento. Alexandre e o seu único companheiro, um burrico, dispunham assim de toda a água de que precisavam. Naquele lugar afastado do mundo, Alexandre acolhia de boa vontade quem ali parasse para se refrescar. Mas os visitantes eram raros e iam-se logo embora.
Alexandre sentia-se muito só. Para ocupar os momentos de solidão, decidiu fazer um jardim. Semeou cenouras, feijões e grandes cebolas roxas, tomates e milho, melões, abóboras e pimentos vermelhos. Logo de manhã cedo e durante horas, Alexandre trabalhava no seu jardim. Gostava sobretudo de o ver crescer, antes do calor do deserto apertar e o obrigar a refugiar-se em casa.
Os dias passavam lentamente, sem qualquer novidade, até que uma bela manhã foi surpreendido pela chegada de um visitante. Um esquilo surgiu do silêncio e avançou, lentamente, pé ante pé. Ao vê-lo aproximar-se do jardim, Alex ficou imóvel. O esquilo escapou-se para um rego onde matou a sede e depois desapareceu. Nesse instante, Alexandre deu-se conta de que tinha esquecido a sua solidão, e passou a ficar à espera que o esquilo regressasse./ O esquilo voltou muitas mais vezes e sempre com novos companheiros: ratos de pescoço branco, os geomis da montanha, grandes lebres, ratos cangurus do Texas e ratinhos de bolsa de Bailey. Também vieram muitos pássaros visitar o jardim de Alex: os cucos corredores da Califórnia, os picanços de Gila e os tordos dos remedos de bico curvo. Os trogloditas de cabeça castanha, os pardais de artemísia, de olhos orlados de branco, as pombas da Carolina e ainda muitos mais, que pousavam nos ramos da alfarrobeira, ou descansavam nos catos sanguaro, antes de saciaram rapidamente a sua sede, ao cair da noite. Por vezes, até uma velha tartaruga atravessava lentamente o jardim.
Alex sentia que, assim, o tempo passava mais depressa, porque a cada instante se distraía com um novo visitante. Já não estava só, mas interrogava-se se isso seria de facto o mais importante.
Depressa percebeu que os visitantes não vinham procurar um amigo, mas vinham simplesmente à procura de água. E Alex pensou em todos os outros
animais do deserto… o coiote e a raposa cinzenta, os linces ruivos, as mofetas, os texugos, os pecaris (os porcos monteses da América do Sul), os veados, a corça e os cabritos monteses. Encontrar água para todos não era problema. Com o dínamo e o poço, Alex podia fornecer muita água. Mas tinha de descobrir um meio de todos poderem usufruir dela.
Alex resolveu fazer um reservatório. Sem perder tempo, começou a escavar. Foi uma tarefa cansativa, que durou vários dias, sob um sol escaldante. Mas encheu-se de coragem ao pensar que podia ajudar tantos hóspedes sequiosos. Restava agora esperar pela chegada dos animais corpulentos. Alex andava de um lado para o outro, como era costume, dava de comer ao burrico, tratava do jardim… Os dias passavam e nada de novo acontecia. Alex tinha esperança, mas passavam semanas e semanas e tudo continuava calmo. Porque é que os animais não vinham? Alguma coisa devia estar errada!
Depressa se desvendou o mistério. Uma manhã, uma mofeta aventurou-se a chegar perto da poça de água. Mas, mal viu Alex, fugiu para o silvado. Como é que ele não tinha pensado nisso? Era preciso mudar a poça de água de lugar o mais depressa possível. Alex começou a cavar num lugar mais afastado, escondido atrás de um silvado. Acabada a obra, escondeu-se ali perto e esperou. Será que viriam? E desta vez não ficou desiludido!
Uns atrás dos outros, tímida e furtivamente, os animais saíram do deserto. Como a nova poça ficava um pouco afastada da casa e da estrada, os animais não tinham medo. Alex tinha muitas provas disso: a chilreada dos pássaros ao cair da tarde, o sussurro da alfarrobeira na calada da noite, traindo a presença de um coiote, de um texugo ou talvez de uma raposa cinzenta, o passo leve de um veado, os grunhidos dos pecaris.
E, durante as horas passadas a ouvir calmamente todos os ruídos dos seus novos companheiros, Alex pensou que era essa a sua melhor recompensa… O presente que lhes oferecera, a poça de água, nada era, comparado com o que ele recebera em troca: a presença cúmplice e amiga dos animais.
Richard E. Albert
Alexandro et ses amis du désert Paris,
Éditions Autrement, 1997
(Tradução e adaptação)
AS MULHERES DO PÁTIO

— Esta corda ser minha! — grita a Jugoslava.
— Eu há mais tempo na casa!
— Tu a mentir! — grita a Turca. — Senhorio disse corda para todos!
As duas mulheres chegaram ao pátio com os cestos cheios de roupa para estender. Agora discutem sobre quem fica com as cordas de plástico esticadas ao longo do pátio. A Jugoslava não sabe turco, a Turca não sabe falar jugoslavo. Por isso é em alemão que têm de falar uma com a outra, a língua do país onde vivem.
— Tu má! Eu três filhos! Muito sujo!
— Tu rainha aqui? Tu nada rainha! Corda aqui para todos!
— O teu homem prega gancho ali, no outro canto! Tu compra a corda para ti, percebido?
— Não, não! Não tenho dinheiro para nova corda! E tu não dar ordens aqui! Estão de pé em frente dos cestos gritando uma com a outra. As pessoas das casas vizinhas já há muito que sabem por que motivo as duas mulheres se zangam. Mesmo assim, ainda há quem corra à janela a ver como é que a discussão desta vez vai acabar. Às vezes há quem ainda grite: “Silêncio aí em baixo!” ou “Pendurem a roupa em vossas casas!” De vez em quando, uma janela fecha-se com força, alguém ri do alemão cómico das mulheres do pátio.
— Vocês deixam que isto aconteça? Uma confusão destas num domingo? — pergunta o Sr. Stachel, de visita, com a mulher, em casa de Lotti e Karl Waldmeister.
O Sr. Waldmeister fecha o guarda-sol e encosta-o a um canto da varanda.
— Bom, vamos antes tomar o café dentro de casa, peço desculpa.
A Sr.ª Waldmeister encolhe os ombros.
— Logo vi que isto ia acontecer.
— Muito desagradável! — diz a Sr.ª Stachel.
— Não há forma de se acabar com isto — diz o Sr. Waldmeister.
Mas ele sabe muito bem como pode mudar a situação. Já pensa nisso há muito tempo.
No quarto de banho estão duas máquinas de secar roupa. Só uma é utilizada mas a segunda também podia passar a servir. O Sr. Waldmeister pensa ainda na terceira grande máquina, a anhar pó no sótão, que lhes fora oferecida pela vizinha, quando se mudara para um lar de idosos. “Sabes que mais, Lotti?” podia dizer à sua mulher. “É muito simples: colocamos a máquina de secar no pátio e acabamos com a discussão de uma vez por todas!”| Não o diz porque talvez Lotti não ache a ideia boa. Se calhar responderia: “Oferecer alguma coisa a quem está sempre a incomodar-nos?”
A Sr.ª Waldmeister corta o bolo e abafa um suspiro. Ela teria uma solução. Já anda com esta ideia há bastante tempo.
“Sabes que mais, Karl?” podia dizer ao marido. “Por que é que não colocamos a terceira máquina de secar roupa lá em baixo, no pátio?” Não o diz, porque Karl não levaria a ideia a sério. Se calhar responderia: “Nem pensar! Elas que tratem de comprar uma máquina de secar roupa o mais rápido possível!”
O Sr. Waldmeister fecha a porta da varanda e liga a ventoinha.
As mulheres continuam a discutir no pátio.
— No vosso lugar, chamava a polícia — diz o Sr. Stachel.
— Bem, se isto continuar assim — diz o Sr. Waldmeister — um dia não vamos ter outra solução.
A Sr.ª Waldmeister tira do frigorífico a taça a transbordar de natas e pousa-a em cima da mesa.
— Sirvam-se à vontade. Há que chegue.
A voz treme-lhe um pouco, mas ninguém nota.
Temos tudo que chegue. Bolo que chegue. Natas que cheguem. E uma máquina de secar a mais.
Os Waldmeister têm tudo o que precisam.
Só coragem é que têm muito pouca.
Vera Ferra-Mikura
Frieden fängt zu Hause an
Jutta Modler (org.)
Jutta Modler (org.)
Munique, DTV, 1989 (Tradução e adaptação)

Não era normal! Os três amigos de Andi tinham pais famosos.
O pai de Alexandre era cirurgião. Um daqueles médicos a quem as pessoas ricas e importantes recorrem para tirar o apêndice.
O pai de Rafael tocava violino. Não apenas por prazer. Dava concertos pelo mundo inteiro e era sobejamente conhecido.
O pai de Gino era um realizador de cinema. Diz aos atores o que eles têm de fazer, foi como Gino, com certo orgulho, explicou a profissão do pai.
O pai de Andi era vendedor numa loja de roupa para homem. Um pouco baixo, usava óculos dourados e não era nada conhecido.
Andi só o via ao fim de semana, porque os pais tinham-se separado. Quando os colegas falavam dos pais, Andi ficava calado. O que é que ele havia de dizer? Na passada terça-feira, o meu pai vendeu um fato de flanela cinzenta?
Nas férias grandes, Alexandre foi para África, porque o pai queria fotografar leões. Rafael foi para Nova Iorque, onde o pai ia dar um concerto. E Gino foi para a Sérvia, onde o pai estava a rodar um filme.
O pai de Andi queria ir para a Toscânia. Pela sua bela paisagem e porque gostava de visitar igrejas antigas. Andi não tinha bem a certeza se queria ir, mas estava combinado passarem juntos umas férias por ano.
Por isso, Andi foi com o pai para Itália. Para dizer a verdade, até gostou bastante. Ficaram numa terrinha entre vinhas, davam passeios e visitavam igrejas antigas, mas não em demasia.
Certo dia, que seria diferente dos outros, passeavam pelo mercado de uma pequena aldeia. Compraram tomates e alhos para o molho do esparguete, e ainda pêssegos e uvas para a sobremesa. Num pequeno bar, o pai de Andi tomou café e Andi bebeu um sumo de laranja, que em Itália se diz “aranciata”. Dirigiram-se depois, devagar, para o local onde o carro ficara estacionado.
Andi foi o primeiro a ver os pássaros. Parou, horrorizado. Numa parede batida pelo sol estavam dependuradas cerca de vinte minúsculas gaiolas, cada uma com um pássaro fechado lá dentro. Pardais, tentilhões, um melro. Num desespero evidente, arremessavam-se para cima e para baixo contra as grades.
— Que maldade! — exclamou Andi.
O pai de Andi olhou pensativamente e não proferiu palavra.
De resto, mais ninguém parecia incomodar-se com os pássaros encarcerados. As pessoas passavam, falavam, riam, e não prestavam a mínima atenção àquele arremeter e piar de desespero.
O pai de Andi aproximou-se de uma gaiola. O pardal, prisioneiro e em pânico, tentava bater as asas, mas a gaiola era tão pequena que as asas embatiam contra as grades de madeira. Num gesto rápido e resoluto, o pai de Andi abriu a porta da gaiola. Teve de retirar primeiro o recipiente da água e só depois é que pôde abrir a porta de arame. O pardal mais parecia dar cambalhotas do que voar. Pousou por um instante na rua, atordoado, mas depois voou e desapareceu. O pai de Andi abriu todas as gaiolas. Uma por uma.
— Estão a olhar para nós — disse Andi. — Despacha-te!
Mas só quando abriu a última gaiola é que o pai pegou no saco de papel que tinha pousado no chão e deu a mão a Andi.
— Não vão deixar-nos passar — sussurrou Andi, com medo. Um pouco mais à frente, havia pessoas paradas na rua, que falavam em voz baixa umas com as outras e olhavam para eles com um ar severo.
Agora vamos precisar do Super-Homem, pensou Andi, deitando um olhar de soslaio ao pai. Que esquisito! Teria o pai crescido em tão pouco tempo? Parecia muito maior do que de costume, muito decidido. E fazia cá uma cara… Exatamente como o Super-Homem, antes de um duelo de vida ou de morte.
Contrariadas, mas sem nada fazerem, as pessoas da rua afastaram-se, deixando o caminho livre a Andi e ao pai. Quando os dois dobraram a esquina, estugaram o passo e, em poucas passadas, chegaram ao carro. Andi voltou a olhar para o pai para se certificar. Será que alguém na idade dele pode ainda crescer? E tão de repente? Deve ter sido uma ilusão!
Deixaram a pequena aldeia para trás, mas nenhum dos dois falava. Andi olhou mais do que uma vez discretamente pelo espelho. Ninguém a persegui-los! À sua frente, estendiam-se montes raiados de cor-de-rosa, violeta e azul-claro. Ciprestes escuros erguiam-se contra o azul leitoso de um céu de verão. Os dois continuavam ainda em silêncio. Mais tarde, sentaram-se debaixo de uma oliveira, a comer pêssegos sumarentos. Sobre as suas cabeças, pousado num ramo coberto de folhas prateadas, cantava um pássaro.
— Este pertence ao teu grupo de admiradores! — disse Andi ao pai.
Como está ansioso por ouvir o que Alexandre, Rafael e Gino vão dizer!
Edith Schreiber-Wicker Brigitte Meissel;
Wilhelm Meissel (org.)
Fernweh
Wien, Herder Verlag, 1980
(Tradução e adaptação)
UM HOMEM SEM CABEÇA
(Conto argelino)
Esta é a aventura do famoso Jouha. Na Argélia chamam-lhe Jha, ou então, Ben Sakrane. Mais a leste, conhecem-no como Nasredin Hodja. Na realidade, trata-se de Tyl Eulenspiegel ou de Jean le Sot: o louco que vende a sua sabedoria, aquele que zurra como um burro para ser ouvido, e que às vezes é dono de uma esperteza imbatível.
Um dia, Jha encontrou alguns amigos prontos para combater. Tinham escudos, lanças, arcos e aljavas cheias de setas.
— Onde vão nesses preparos? — perguntou-lhes.
— Não sabes que somos soldados profissionais? Vamos tomar parte numa batalha, que promete ser dura!
— Ótimo, eis uma oportunidade para ver o que acontece nessas coisas de que ouvi falar mas que nunca vi com os meus próprios olhos. Deixem-me ir convosco, só desta vez!
— Está bem! És bem-vindo!
E lá foi ele com o pelotão que se ia juntar ao exército no campo de batalha.
A primeira seta acertou-lhe em cheio na testa! Depressa! Um cirurgião! O médico chegou, examinou o ferido, meneou a cabeça e declarou:
— A ferida é profunda. Vai ser fácil remover a seta. Mas, se tiver a mais ínfima parte de cérebro agarrada, está perdido!
O ferido pegou na mão do médico e beijou-a, exprimindo a sua “profunda gratidão para com o Mestre”, e declarou:
— Doutor, pode remover a seta sem medo; não vai encontrar a mais ínfima parte de cérebro nela.
— Esteja calado! — disse o médico. — Deixe os especialistas tratarem de si! Como sabe que a seta não atingiu o seu cérebro?
— Sei-o bem demais — disse Jha. — Se eu tivesse a mais pequena partícula de cérebro, nunca teria vindo com os meus amigos.
Margaret Read MacDonald
Peace Tales
Arkansas, August House Publishers, Inc., 2005
(Tradução e adaptação)
O VALE DA NEBLINA

Numa terra longínqua havia uma bela cidade. Ficava escondida num vale profundo, sempre coberta de neblina.
Ninguém no vale tinha subido as encostas da montanha para ver o que havia para além dela. Nem nunca tinham visto o sol a brilhar no céu, lá bem no alto. A lua e as estrelas eram-lhes de todo desconhecidas. E nunca nenhum viajante tinha alguma vez chegado com notícias.
Os mais velhos da cidade diziam “Nada pode ser mais belo que o nosso vale, portanto, não pode haver nada fora dele.” E os pais explicavam aos filhos “ Temos tudo o que precisamos. Não há necessidade de procurar fora seja o que for.”
As crianças acreditavam neles e, quando cresciam, diziam a mesma coisa aos seus filhos e netos. E assim se passaram anos e séculos.
♥♥♥
Mesmo às portas da cidade vivia um homem idoso com o seu neto.
Quando as pessoas passavam por eles exclamavam “Olhem, é ali que vive o Stefan com o seu avô velho e tonto.” Porque, uma ocasião, o idoso tinha afirmado que, por detrás das montanhas, havia um outro mundo, brilhante e cheio de cor… Desde então, chamaram-lhe louco e acabou por ser expulso da cidade.
Um dia, o avô de Stefan disse-lhe “Estou demasiado velho para subir de novo. Talvez um dia, quando fores suficientemente crescido, possas descobrir o teu próprio caminho até ao topo da montanha e ver o brilho da luz, tal como eu o vi, uma certa vez.”
Nessa noite Stefan permaneceu acordado. Sabia que o avô estava a dizer a verdade. E queria prová-lo a toda a gente. Decidiu assim pôr-se a caminho até ao topo da montanha.
A floresta estava muito escura, mas Stefan continuou corajosamente. Através das árvores, podia ouvir o rio impetuoso, um mocho a piar e os lobos a uivar. E pensou que o rio estaria a dizer-lhe “Não continues, é uma perda de tempo.” O mocho na árvore parecia piar “Não há nada para além do vale.” Os lobos pareciam uivar “Se continuares, vais morrer”. Stefan estava muito assustado mas, mesmo assim, continuou a andar noite fora.
À medida que subia, a neblina tornava-se cada vez mais fina. Por fim, deu por si já no cume da montanha e, pela primeira vez na vida, viu o sol nascer sobre a terra, enchendo o mundo de luz e cor. E Stefan conseguia ver como as nuvens pairavam em baixo, enchendo o vale. Apenas as torres mais altas do palácio espreitavam através da neblina.
Stefan apressou-se a voltar à cidade e foi falar com a Assembleia dos Mais Velhos.
“Vi um mundo cheio de luz e cor para além da montanha, “ disse-lhes.
Alguém gritou “Não liguem, é apenas o Stefan. Enlouqueceu como o avô!”
E toda a gente se riu.
Stefan ficou zangado. “Mas vocês também o poderão ver, do topo da torre mais alta do palácio!”
“É proibido subir às torres,” gritaram os mais velhos. “Os soberanos antigos diziam que era perigoso. Ninguém está autorizado a subir até lá.”
“Disparate!” gritou Stefan, enquanto corria em direção à porta da torre mais próxima e começava a subir as escadas. Movimentava-se muito rapidamente e depressa desapareceu.
Os mais velhos lançaram-se atrás dele, aos gritos “Chamem a guarda! Detenham-no!”
Os guardas apressaram-se no seu encalço, escadas acima. “Volta para trás,” berravam eles, “ou fechar-te-emos na prisão.” Os mais velhos seguiam atrás, tão rapidamente quanto podiam. Stefan viu que eles não conseguiriam apanhá-lo e continuou sempre, sempre a subir, até que chegou mesmo ao cimo da torre.
Quando os guardas e os mais velhos chegaram ao topo e olharam em volta, gritaram de surpresa: "Ah! Oh! Ah! Oh!” De tal modo ficaram admirados com a luz e a cor sobre toda a terra!
Afinal, Stefan e o avô sempre tinham razão!
Stefan correu para casa ao encontro do avô, para lhe contar tudo o que tinha acontecido. O avô olhou para ele com orgulho e alegria.
A partir desse dia, muitos habitantes partiram para explorar o que estava para além das montanhas. Aprenderam coisas sobre o mundo lá fora, cheio de sol. Descobriram outras cidades e outras gentes e falaram a todos do seu vale da neblina.
Em breve vieram viajantes de muito longe para ver a beleza da cidade da bruma.
♥♥♥
Lá no alto da montanha, onde o sol e a neblina se encontram, vivem agora Stefan e o seu avô, numa pequena casa.
Mas, atualmente, quando as pessoas por ali passam, param e dizem “Olhem, é ali que vive o Stefan com o seu sábio avô.”
Arcadio Lobato
The Valley of Mist
Edinburgh, Floris Books, 2000
(Tradução e adaptação)
TOMÁS APRENDE A LER

Tomás sabia fazer uma vala com troncos de árvore ou cozinhar uma tortilha, mas não sabia ler. Fazia uma mesa de uma árvore e um xarope da sua seiva, mas não sabia ler. Tomás sabia tratar dos tomates, dos pepinos e das maçarocas de milho, mas não sabia ler. Conhecia as pegadas dos animais e os sinais das estações do ano, mas não conhecia as letras nem as palavras. Um dia disse ao seu irmão, José:
— Quero aprender a ler.
— Já estás velho para isso, Tomás — respondeu-lhe José. — Tens filhos e netos e sabes fazer quase tudo.
— Mas não sei ler — insistiu Tomás.
— Já que queres, então aprende! — disse José.
— Quero aprender a ler — disse Tomás a Júlia, sua mulher.
— És um homem maravilhoso, tal como és — respondeu Júlia, fazendo-lhe uma festa.
— Mas ainda posso ser melhor — replicou ele.
— Então aprende! — disse a mulher, a sorrir, enquanto tricotava. — Assim, poderás ler para mim.
— Quero aprender a ler — disse Tomás ao seu velho cão pastor.
O cão fitou-o e depois deitou-se no tapete a seus pés. Tomás começou a pensar: “Como é que vou aprender a ler? O meu irmão não me pode ensinar. A minha mulher não me pode ensinar. Este cão velho também não me pode ensinar. Como é que eu vou aprender?” Pensou durante algum tempo até que, por fim, sorriu.
No dia seguinte, levantou-se ao nascer do sol e fez o trabalho da quinta. Depois do trabalho, lavou a cara e as mãos, penteou o cabelo e a barba, e vestiu a sua camisa preferida. Comeu umas torradas e preparou uma sandes. Depois, despediu-se de Júlia com um beijo e saiu de casa. Pelo caminho encontrou um grupo de meninos e meninas que, à sombra das árvores, se dirigiam para o mesmo local. Quando as crianças entraram na escola, Tomás entrou também. Ao vê-lo, a Professora Garcia sorriu.
— Quero aprender a ler — disse Tomás.
Ela indicou-lhe um lugar vago e ele sentou-se.
— Meninos e meninas — anunciou a professora — hoje temos um novo aluno.
Tomás começou pelas letras e seus sons. Alguns meninos ajudaram-no. No recreio, sentou-se debaixo de uma árvore e ensinou algumas crianças a imitar o canto do melro e o grasnar do ganso. E contou-lhes histórias.
Depressa Tomás aprendeu palavras. Todos os dias copiava os exercícios no caderno, com esmero. Gostava muito que a professora ou as crianças mais velhas lessem em voz alta, na aula. Por vezes, desenhava enquanto ia ouvindo. Tomás ia aprendendo, mas também ensinava. Ensinou os meninos a talhar madeira com uma navalha. E a professora aprendeu com ele a fazer compota de maçã e a assobiar.
Ao fim de algum tempo, Tomás já era capaz de juntar palavras e escrever histórias sobre como salvara um pequeno esquilo, como tomara um banho no rio e como conhecera a sua mulher.
À noite, Júlia ficava a vê-lo fazer os exercícios na mesa depois da ceia.
— Quando é que vais ler para mim? — perguntava-lhe.
— Quando chegar a ocasião — respondia o marido.
Um dia, Tomás trouxe da escola um livro de poemas que falava de árvores, nuvens, rios e gazelas velozes, e guardou-o debaixo da almofada. Nessa noite, quando Júlia e ele foram para a cama, pegou no livro.
— Ora escuta — pediu.
E leu um poema sobre pétalas suaves e o doce perfume das rosas e outro sobre ondas que se esbatiam na orla do mar. Terminou a leitura com um poema de amor.
Júlia olhou o marido nos olhos.
— Oh, Tomás! — disse. — Também quero aprender a ler.
— Amanhã, depois do pequeno-almoço, querida! — respondeu ele a sorrir, apagando a luz.
Jo Ellen Bogart
Tomás aprende a ler
Barcelona, Editorial Juventud, 1998
(Tradução e adaptação)
MÃOS DE MÃE

Noite após noite, a minha mãe vinha aconchegar-me, mesmo quando eu já deixara há muito de ser criança. Tal como outrora, inclinava-se sobre mim, afastava o meu cabelo comprido e beijava-me a testa.
Não me lembro de quando o gesto das suas mãos a afastar o meu cabelo começou a irritar-me. Mas aborrecia-me deveras que ela passasse as mãos ásperas e gastas pelo trabalho sobre a minha pele macia. Uma noite gritei, zangada:
— Não faças mais isso! As tuas mãos são muito ásperas!
A minha mãe não disse nada, mas nunca mais aquele gesto de amor rematou os meus dias.
Continuei acordada muito tempo depois de ter proferido aquelas palavras, que agora me perseguiam. Contudo, o orgulho abafou a consciência e não consegui dizer-lhe o quanto lamentava tê-las proferido.
Os anos foram passando, sem que a memória daquela noite se apagasse. O incidente, que ora parecia recente ora se afigurava longínquo, nunca me saiu da mente e eu comecei a ter saudades daquele gesto que reprimira.
Hoje a minha mãe já ultrapassou os setenta anos e as mãos que outrora achei tão ásperas ainda trabalham para mim e para os meus. É ela que tem sido a nossa médica, ao procurar no armário o remédio para aliviar uma dor de estômago ou de um joelho ferido dos mais novos. É ela que faz o melhor frango frito do mundo, que tira as nódoas das calças de ganga como eu nunca consegui, que ainda insiste em servir gelado a qualquer hora do dia ou da noite. Ao longo dos anos, as mãos da minha mãe trabalharam durante
horas incontáveis, muito antes de haver máquinas de lavar e tecidos resistentes que não engelham.
Agora, os meus filhos já são crescidos e independentes e o meu pai já faleceu. Em ocasiões especiais, vou passar a noite com ela.
E foi assim que, numa véspera do Dia de Ação de Graças, quando eu começava a adormecer no quarto da minha infância, senti uma mão conhecida, que passava, hesitante, pelo meu rosto, para afastar o cabelo da minha testa. Quando um beijo, sempre igualmente gentil, pousou no meu sobrolho, recordei, pela milésima vez, a noite em que a minha voz jovem e ríspida soara indignada:
— Não faças mais isso. As tuas mãos são muito ásperas!
Então, segurando a mão da minha mãe, disse-lhe o quanto lamentava aquela noite. Pensei que, como eu, ela se lembrasse... Mas a minha mãe não sabia do que eu estava a falar, pois há muito que tinha esquecido e perdoado.
Naquela noite, adormeci profundamente grata pela presença da minha mãe e pelo carinho das suas mãos.
E a culpa que eu tinha carregado durante tantos anos desvaneceu-se.
Louisa Godissart McQuillen
Jack Canfield, Mark Victor Hansen
A Second Chicken Soup for the Woman’s Soul
HCIbooks, Deerfield Beach, 1998
(Tradução e adaptação)
O PROBLEMA

Era uma vez um lavrador. Embora trabalhasse noite e dia, nunca conseguia deixar de ser pobre. De cada vez que começava a sentir que estava a tirar o melhor partido de uma situação, tudo acabava sempre por falhar. Se num ano havia seca, no outro havia cheia. Se num ano os rebanhos adoeciam, no ano seguinte os lobos dizimavam-nos. Se num ano o preço do cereal descia, no ano seguinte o rei subia os impostos.
Certo dia, o lavrador estava sentado num tronco, cabisbaixo e desesperado. De repente, apareceu uma estranha e grotesca criatura a dançar, a cantar e a rir à volta do lavrador. Os pelos que lhe cobriam o corpo estavam emaranhados, os olhos selvagens faiscavam e tinha os dentes pretos. O cheiro que exalava quase fez o lavrador chorar.
— Quem és tu?
— Eu, bom homem, sou o teu problema. Só passei por aqui para ter a certeza de que eras o mais infeliz possível!
— Monstro! Então é por tua causa que nunca coisa alguma me corre bem?
— Pois é! Eu sou o teu azar, a tua desgraça. Sem mim, serias um homem com sorte.
Rápido como o vento, o pobre homem agarrou o seu problema pelo pescoço e amarrou-o com cordas fortes. Em seguida, abriu uma cova bem funda e atirou a sua desgraça lá para dentro. Tapou-a com pedras e regressou a casa.
No dia seguinte, a sorte começou a mudar. As ovelhas deram à luz gémeos, as vacas começaram a dar duas vezes mais leite, as culturas cresciam mais depressa e mais alto do que nunca, e as árvores estavam carregadas de frutos. Todos os comerciantes queriam comprar os seus produtos e toda a gente vinha adquirir os seus legumes, frutos e animais. Em poucas semanas, o homem, que fora tão pobre, estava rico.
O lavrador tinha um vizinho que habitualmente era bem-sucedido. Este homem rico sempre olhara com desdém para o lavrador e ridicularizara o seu trabalho. Agora via que o
lavrador estava quase tão rico como ele e, ainda por cima, em tão pouco tempo. Um dia, não conseguiu aguentar mais a curiosidade e foi visitá-lo.
— Parabéns, vizinho, pela sua recente boa sorte. Devo dizer que estou admirado com a rapidez com que conseguiu fazer prosperar esta quinta. Qual é o segredo?
— É simples. Encontrei a raiz do meu infortúnio. O meu problema veio vangloriar--se da minha má-sorte e eu apanhei-o. Enfiei-o num buraco fundo, que cobri com pedras, um buraco que fica na minha pastagem. Essa é, sem dúvida, a razão pela qual finalmente tive sorte, depois destes anos todos de trabalho e fracasso.
O lavrador rico não gostou que o vizinho tivesse finalmente triunfado na vida. Naquela mesma noite, rastejou até ao buraco onde o problema do vizinho estava enterrado. Durante toda a noite levantou as pesadas pedras e cavou a terra até encontrar o problema. Desamarrou-o e pô-lo em liberdade.
— Muitíssimo obrigado — gritou o problema. — O senhor é um verdadeiro amigo.
— Agora — disse o homem rico — podes voltar a atormentar o teu antigo dono outra vez.
— Não, não, não! — gritou o problema. — Aquele homem tratou-me muito mal e atirou-me para dentro deste buraco. Mas o senhor foi tão amável em libertar-me! Vai ser um amo muito melhor. Vou ficar consigo para sempre.
Assim foi e assim devia ser.
Dan Keding,
Stories of Hope and Spirit
Little Rock, August House Publishers, 2004
(Tradução e adaptação)
A jarra partida

Partiu-se a jarrinha, aquela jarrinha de flores pintadas à mão, tão elegante, tão graciosa que era o enlevo de todas as pessoas que passavam por nossa casa.
— Está na nossa família há séculos. Dizem que foi oferecida por uma rainha de Antigamente a uma antepassada nossa — explicava a minha mãe, enternecida, a olhar para a jarrinha de flores pintadas.Pois, mas partiu-se. Partiu-se em cacos inumeráveis que não há conserto nem cola que lhe valham. Quem foi o desastrado?
— Eu não — safou-se o Tiago. — Quando eu cheguei a casa, já a mãe estava a chorar.
O meu irmão Tiago ficou livre de qualquer suspeita.
— Eu também não fui — apressou-se a dizer o meu pai. — Quando eu cheguei a casa, já a vossa mãe estava a ser consolada pelo Tiago.
— Eu é que não fui — choramingou a minha mãe. — Tinha tanta estimação na jarrinha. Quando eu cheguei a casa, não havia cá ninguém e já a jarra estava partida em mil bocados. Por pouco que não desmaiava de desgosto.— Só se foi o Bolinhas... — lembrou o Tiago.
O nosso gato Bolinhas desenrolou-se com muita dignidade e disse:
— Eu não fui nem tenho nada a ver com o assunto.
E voltou a enrolar-se e a adormecer. Ai, quem me dera ter podido fazer o mesmo!
— Fui eu — balbuciei.
Todos se viraram para mim.
— Tu, Marcos? E estavas calado?
Suspirei fundo e comecei a contar o que acontecera. À medida que contava, ia ficando mais tranquilo, sem aquela insuportável queimadura nem sei onde – no estômago? No coração? na barriga? – que me fizera correr de casa para a escada, da escada para a rua, como se tivesse lançado fogo
ao prédio. Ou a mim próprio.
Tinha sido um azar. É sempre um azar. Para meter a ficha do gravador de vídeo na tomada da parede, tive de arredar um bocadinho a estante. Não contava que fosse tão pesada. Com a inclinação da estante, os livros escorregaram. Precipitei-me sobre eles, para evitar o desmoronamento. Não
medindo os gestos, dei um encontrão numa mesinha que abalou o expositor onde estava a jarrinha. Estremeceram as bonecas de Saxe e saltaram as chávenas de café nos respetivos pires... A jarrinha, como a casca de um ovo, partiu-se. Acho que ela estava, há muito tempo, à espera de partir-se.
Qualquer estremecimento lhe daria o pretexto. Dei eu. A culpa foi minha.
Disse isto com um ar tão enfiado, tão de lamentar, que o círculo acusador à minha volta se desanuviou e desfez por si. A minha mãe, suspirando, foi varrer os vidros da jarra para uma caixa, na ilusão de que talvez ainda pudesse ser restaurada, o Tiago lançou-me uma piscadela de olhos de ―fixe, meu‖, e o meu pai, antes de mergulhar no jornal, confidenciou-me:— Sabes: a jarra realmente já estava partida. Há tempos, na balbúrdia de uma brincadeira com o Bolinhas, que ainda era gatinho, a jarra rachou-se. Isto é, rachei-a... Como estava sozinho em casa, tive tempo de consertá-la o melhor que pude, para não dar um desgosto à tua mãe. Mas, de facto, a
jarra já estava partida.
Por aquela não esperava eu.
— Tu tiveste muita coragem em confessar — continuou o meu pai. — De aqui a bocado, ao jantar, quando estivermos todos juntos, vou ser eu a precisar de coragem. E desculpa...
O meu pai abriu à sua frente as longas páginas do jornal, não sei se para lê-las, se para esconder a cara do embaraço.Também é preciso coragem para pedir desculpa.
António Torrado
www.historiadodia.pt
Honrar a palavra
No negócio de mobílias usadas, não se pode comprar por catálogo, como se faz com as novas. As pessoas aparecem e o comerciante tem de ir às casas vê-las e fazer o seu preço. “Não se pode vender o que não se tem,” costumava dizer o meu pai. Por isso, estas visitas eram de extrema importância para ele.
Quando eu tinha 13 anos, o meu pai ficou sem o gerente da loja, um homem que, com o seu único braço, trabalhava muito mais do que muitas pessoas com os dois. Conseguia, por exemplo, suspender uma cadeira da ponta de uma vara, içá-la no ar e fazê-la deslizar até uns ganchos presos ao teto, bem
à vista de todos quantos entravam na loja. Na falta do gerente, o meu pai veio pedir-me ajuda, pedindo-me que ficasse à frente do balcão enquanto ele procedia às visitas do dia, até se encontrar a pessoa certa. A loja tinha dezenas de milhar de objetos. “As pessoas gostam de regatear,” disse-me, “por isso não há preços marcados. Apenas tens de ter alguns pontos de referência.”
Todos os dias depois da escola, voava na minha bicicleta até à loja. Um dia, estava eu a escrever o preço de um prato muito bonito numa tirinha de papel quando o meu pai entrou. Tinha pedido um dólar e o comprador não hesitou.
Fiquei todo contente. O meu pai viu o que eu estava a fazer, virou-se para o cliente e disse, “Que bela pechincha leva aí! O meu empregado fez--lhe o preço e é esse o preço certo.” Mais tarde, perguntei ao meu pai, “Porque é que o pai disse aquilo?”
Tratava-se, pelos vistos, de um prato antigo que valia umas boas centenas de dólares. Fiquei descoroçoado. Tanto que me esforçava por dar o meu melhor. Pelos vistos, em vez de ajudar o meu pai, estava a fazê-lo perder dinheiro. “Se quisesse, podia ter impedido o negócio,” disse ele. “Estavas a escrever o preço e ainda não tinhas pegado no dinheiro. Além disso, és menor de idade. Só que um judeu honra a sua palavra e a dos seus colaboradores.”
Este incidente haveria de ter uma consequência. Anos mais tarde, a minha mulher e eu tivemos de mandar uma grande quantia de dinheiro para a nossa filha em Israel. Um funcionário do banco aconselhou a minha mulher a enviar o dinheiro através de cheque visado, uma vez que, dessa forma, estaríamos isentos do pagamento de comissões. Quando recebi o extrato bancário, porém, reparei que nos tinha sido debitada uma série de taxas. Decidi, então, ir falar com a gerente do banco e explicar-lhe que um funcionário seu é que nos tinha aconselhado sobre a melhor forma de evitar despesas com o envio do dinheiro.
Ouviu-me em silêncio e, no final, disse apenas, “Lamentamos o sucedido, mas acontece que o colega deu uma informação errada.”
Durante todo o tempo em que falei, a gerente não proferiu palavra e assim continuou, enquanto eu aguardava a sua reação. Quando falou, a voz era suave. “O Banco de Comércio Imperial do Canadá não ficará aquém do seu pai,” disse, com toda a dignidade. Prometeu, então, a anulação de todas as taxas indevidamente cobradas.
Enquanto lhe agradecia e me preparava para ir embora, senti-me grato por uma história de integridade ainda ter o poder, nos tempos que correm, de tocar os corações e acordar consciências no mundo impessoal dos negócios.
Rabbi Roy D. Tanenbaum
Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Rabbi Dov Peretz Elkins
Chicken Soup for the Jewish Soul
HCIbooks, Deerfield Beach, 1999
(Tradução e adaptação)
A Tecedeira de Cabelos Negros

Noite de Outono.
Sem um grito.
Um corvo passa.
Kishi
Há muito, muito tempo, na cidade de Quioto, vivia um samurai que estava casado com uma mulher bela, de bom coração, que era, além disso, uma excelente tecedeira. Quis o destino que o samurai perdesse o lugar que ocupava: o seu senhor morreu e ele ficou a ser um guerreiro sem emprego, um ronin. Embora a mulher vendesse os tecidos, o dinheiro não chegava. Não viviam na pobreza, mas já não podiam manter o mesmo estatuto. Cheio de vergonha, o samurai desesperava-se. Um belo dia embalou os seus haveres e pôs os sabres à cintura.
— Vou-me embora — disse ele à mulher. — Isto não é vida para um homem como eu! Não suporto esta desonra. Arranja outro marido, que eu vou procurar a sorte noutras paragens.
Lavada em lágrimas a mulher suplicou:
— Peço-te que não me abandones. Hei-de tecer ainda mais e vender cada vez mais!
Ser ronin consistia em viver peregrinando, ocupando-se de pequenos serviços, normalmente em troca da refeição do dia e da prática das artes samurai.
Mas o samurai tinha o coração fechado. A mulher chorava, com os longos cabelos negros a flutuar sobre os ombros, mas ele apertou as sandálias, montou o cavalo e partiu sem olhar para trás. Foi até uma cidade longínqua, onde por fim entrou ao serviço de um novo senhor. Graças às suas qualidades, rapidamente se fez notado e em pouco tempo passou a ser um dos mais próximos servidores do amo. Ora, este tinha uma filha, mimada e egoísta. “Se casar com ela, pensou o samurai, está feita a minha fortuna”. Assim, levado pelo interesse, fez-lhe a corte e soube cair-lhe em graça. O casamento foi motivo de grandes festas. Depois tudo voltou ao normal, como dantes.
A nova mulher passava o tempo diante do espelho, a depilar as sobrancelhas e a provar inúmeros vestidos de alto preço, enquanto o samurai servia o senhor e se cobria de glória nos campos de batalha, graças ao sabre, à lança e ao arco. Também acompanhava a esposa quando esta se fazia levar de liteira de loja em loja para comprar tecidos, vestidos, enfeites e jóias. De pé, na rua, ao lado dos carregadores, irritava-se com a vaidade e a futilidade das suas ocupações. E não encontrava alegria naquela vida de rico com que tanto sonhara. Vinha-lhe cada vez mais à lembrança a sua primeira mulher. De noite, via o seu lindo rosto, os olhos meigos a brilhar de afecto por ele, os seus longos cabelos pretos caídos sobre os ombros. Ouvia o bater do tear onde ela tecia os maravilhosos tecidos. Estendia para ela os braços e acordava destroçado, sentindo um enorme tédio por tudo aquilo que o rodeava. Ao fim de algum tempo, os sonhos passaram a assaltá-lo durante o dia. Enquanto esperava que a esposa terminasse as suas eternas compras, o rosto da primeira esposa aparecia diante dele, com o seu sorriso, os traços finos, as mãos delicadas, a cabeleira preta. Aquelas imagens voltavam e perturbavam-no cada vez com mais frequência, ressuscitando-lhe o amor e o desejo. Durante a noite, lágrimas amargas cobriam-lhe os olhos. Agora sabia que, obcecado pelo sucesso, tinha cometido uma loucura. Rejeitara quem o amava e que ele amava também, sacrificara-a à busca de riqueza e de poder. Totalmente consciente desse facto, decidiu abandonar aquela existência artificial, voltar para a verdadeira mulher e pedir-lhe perdão. Uma noite, montou o cavalo e tomou o caminho de Quioto.
Após vários dias de viagem, chegou à cidade um pouco antes da meia-noite. Meteu por ruas escuras, desertas como túmulos e, com o coração a palpitar, dirigiu-se para a sua antiga morada.
Entrou no pátio. As ervas estavam altas. À luz do luar, verificou que o papel de parede estava rasgado nalguns sítios. “Sim, disse a si mesmo, a vida não foi fácil para ela, mas agora que regressei, vou remediar tudo. Sim, tudo irá correr bem”. Prendeu o cavalo, subiu os degraus, descalçou as sandálias, empurrou a porta e entrou. Percorreu as divisões da casa, e depois ouviu o bater regular do tear. O coração do samurai deu um pulo. Abriu uma última porta. A sua mulher estava sentada diante do grande tear, vestida com um vestido remendado, os belos cabelos negros caídos em cascata sobre os ombros e as costas. Voltou-se e viu-o. Um sorriso luminoso iluminou o seu belo rosto pálido. Correu para o marido que a tomou logo nos seus braços.
— Perdoa-me, — disse ele a chorar — perdoa-me, fui um tolo. Mas vou recuperar o tempo perdido, juro-te!
— Chiiiuuu! — murmurou ela, também em lágrimas, — chiiiuuu! Isso agora já não importa. As minhas orações foram ouvidas. Voltaste. Anda, vem!
Passaram a noite a conversar, a rir e a chorar, abraçados, enquanto as velas ardiam e se iam extinguindo. Até que o samurai acabou por adormecer, vencido pelo sono.
De manhã, os raios do sol despertaram-no. Abriu os olhos. O astro brilhava mesmo em frente, através dos buracos do telhado: uma grande parte, apodrecida, tinha caído. Esfregou os olhos, mas não estava a sonhar. O sol batia-lhe em cheio. Estupefacto, olhou em volta.
Havia bolor em tudo, no papel rasgado das paredes e nas traves caídas. No chão de madeira carcomida cresciam ervas. Via-se no meio da sala um tear partido. Ao lado estava a mulher deitada, de costas para ele, os seus finos ombros envoltos num quimono remendado, os longos cabelos caídos pelas costas até ao chão. Segurando-a pelos ombros, virou-a para si e… foi apenas um esqueleto o que viu. Há muito, muito tempo que a sua querida mulher tinha morrido de desgosto, de solidão e de saudade.
Rafe Martin
« Les cheveux noirs » in 10 contes du Japon
Paris, Castor poche Flammarion, 2000
(Tradução e adaptação)
EM INGLÊS

THAT BOOK WOMAN



THE MISCHIEVOUS MONKEY
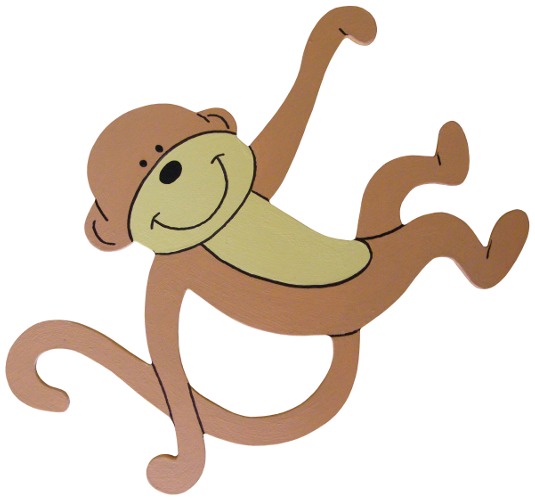

MANGALI’S UNFINISHED ‘KA’


She made sure all the kids at my school k new that SHE WAS THE BOSS.
She’d tell all of us what to do … and we’d do it.
She’d tell all of us where to go… and we’d go there.
She’d tell all of us what to say… and we’d say it.
If we didn’t do what Bobbette told us to do, she’d look at us with her mean eyes. We all knew what that meant...
“If you don’t do exactly what I say...
I’ll twist you into a human pretzel!”
she’d tell us.
We all thought about what it would be like to be twisted into a human pretzel...and it scared us – a lot! So, we all ended up doing exactly what Bobbette told us to do, and we let her be the boss.
Bobbette liked to pick on kids, especially Winston. Winston is the smartest kid in our whole school.
Bobbette made Winston do all of her homework.
Bobbette made Winston give her all of his lunch money.
Bobbette liked to make Winston cry... and then she’d call him a crybaby.
Bobbette teased Winston every day. She said that if he didn’t do exactly what she told him to do... she’d twist him into a human mini-pretzel!
Nobody liked the way Bobbette treated Winston, but we were all too afraid to do anything about it.
Bobbette didn’t have any real friends, but she didn’t know that. Nobody liked Bobbette, but we pretended to like her so that she wouldn’t show us her mean eyes.
Last week, Bobbette asked me to go over to her house after school. I didn’t really want to go, but I went anyway. When we got to her house, her big brother Larry started bullying her!
He told her what to do... and she did it.
He told her where to go... and she went there.
He even told her what to say… and she said it.
Larry made Bobbette cry... and then he called her a crybaby. He told her that if she didn’t do his homework for him, he’d twist her into a human pretzel!!!
“I don’t ever have time to do my own homework” she whispered to me. “That’s why I make Winston do it for me.”
For the first time in my life, I started to feel sorry for Bobbette. I started to understand why she was so mean to everybody.
That night I went home and told my mom all about Bobbette.
I told her how mean she is to all of us and how mean her brother Larry is to her.
“Sounds like you have a true-blue bully on your hands” my mom said. “I’ll get out the Bully Beans!”
“Bully Beans? What are you talking about?
My mom reached into our kitchen cupboard and pulled out a bag of jelly beans. She grabbed a magic marker and wrote “Bully Beans” across the bag.
“Bully Beans are magic jelly beans that when chewed up, remind kids that THEY have the power to stop bullies.”
The “beans” in Bully Beans stands for: “Bullies Everywhere Are Now Stopped!”
“If you want to stop a bully, you have to take away their power. To do that you need to work together. Never hang out on the playground by yourself. Always stay with your friends in groups. Bobbette may be able to bully one of you, but I bet she won’t try to bully all of you at once.”
“When Bobbette picks on Winston, where do you and your friends stand?”
“Right next to Bobbette,” I said.
“Why is that?” asked my mom.
“We don’t want her to use her mean eyes on us,” I said.
“Next time, tell everyone to stand right next to Winston. Tell them to look Bobbette right in the eyes.”
“That sounds scary!” I said.
“It won’t be,” said my mom, “as long as you eat a Bully Bean before you do it!”
“Another way to take away Bobbette’s power is to stay away from her. Bobbette can’t bully you if she can’t communicate with you. If she tries to stare at you with her mean eyes, don’t look at her. If she tries to come close to your group, ignore her and walk away.”
“What if that doesn’t work?” I asked.
“Tell everyone in your group to turn and face Bobbette. Have them stand up straight and tall and look her right in the eyes. Use your loud voice and tell Bobbette to “Back off!” Say it so loud that the entire school can hear you!”
“That sounds scary!” I said.
“It won’t be,” said my mom, “as long as you eat a Bully Bean before you do it.”
“What if she tries to twist me into a human pretzel?” I asked.
“Bobbette may think that she can twist one of you into a pretzel, but she knows she can’t twist all of you.”
“Chances are if you are loud enough, one of the teachers on the playground will hear you and come to see if you need help.”
“Why don’t teachers stop kids who are bullying?” I asked.
“Teachers do stop them when they see it happen. The problem is that most bullies are very smart and they just don’t get caught.”
‘It’s always a good idea to tell a teacher or a counselor when you see bullying. If you are too scared to tell them in person, write them a note and don’t sign your name.”
Mrs. Skundrich, Tony hits Josh at lunch.
“Finally,” she said, “it is very important for you to remember that Bobbette may be a bully on the outside, but on the inside, she’s just a kid like you. If she ever decides to stop being a bully, give her a chance to become one of your real friends.”
I couldn’t believe the words I was hearing!
Me and Bobbette... real friends? NEVER!!
The next day, I went to school and passed out the Bully Beans to all of my friends and talked to them about everything my mom had told me.
We all agreed to give the bully beans a try.
Just before the bell rang that morning, Bobbette headed straight for Winston.
“Give me my homework, Squirt!” she demanded.
“No! no! no!”
Everyone chewed up a Bully Bean and swallowed it. Then we all crowded around Winston.
Winston closed his eyes and swallowed his bean. “No,” he squeaked back at her in a very high voice.
“What did you just say to me?” she asked him.
Winston looked up at Bobbette’s mean eyes and said, “NO! Do your own homework!”
Bobbette couldn’t believe her ears. Her mean eyes got bigger and meaner than I have ever seen them before.
She was just about to grab Winston by the collar, when our teacher came to the door and told us to come inside.
During class that morning, Bobbette tried glaring at Winston, but Winston wouldn’t look at her. He just sat in his seat smiling and eating Bully Beans. I bet he ate about 20 of them!
When recess finally came, everyone ate another Bully Bean and headed for the door. Winston was the first one outside. Bobbette tried to run right after Winston, but we got to him first and stood right next to him.
“Hey squirt,” she said.
“Get over here!!! NOW!”
Winston popped another Bully Bean into his mouth and chewed it up. We all walked away pretending not to hear Bobbette.
She chased him down, mean eyes and all.
“If you don’t stop right now, I’m going to twist you into a human pretzel,” she said.
We all stopped, turned around, stood up straight and tall, and stared right into Bobbette’s mean eyes.
“Back off Bobbette!” I said with a very loud voice.
“We are sick and tired of you telling us all where to go!”
“We are sick and tired of you telling us all what to do!”
“We are sick and tired of you telling us all what to say!”
“We are sick and tired of your mean eyes, and your human pretzel threats, and most of all... we are sick and tired of you!!!!!”
I couldn’t believe what I was saying! The words just poured out of my mouth!
Bobbette took a step toward me.
“Back off!” I screamed. “Leave us alone!”
Our recess teacher heard me scream and came running over to us.
“Is everything OK?” she asked.
I looked Bobette right in the eyes, but this time instead of having mean eyes, her eyes looked scared. Her face turned white. She was in shock!
“Everything is fine,” I said.
Bobette looked up to our teacher and nodded in agreement then she turned around and walked away.
When I got home, I told my mom what happened at school.
“Bully Beans really aren’t magic, are they?” I asked.
“Not exactly,” said my mom. “They’re just regular old jelly beans that taste good. Their only magic is that they helped you find the courage inside yourself to stand up to Bobbette.”
After that day, Bobbette stopped telling all of us what to do.
She stopped telling all of us where to go.
She stopped telling all of us what to say.
She stopped looking at us with her mean eyes.
And she hasn’t said another word since about twisting us into human pretzels.
Yesterday, Bobbette hung around our group for the very first time.
She was nice to everyone, even Winston.
I don’t think she will ever become one of my friends, but at least things are better than they used to be.
Winston told Bobbette all about the Bully Beans.
He even gave her a few of them so she could try them out on her big brother Larry.
She told him she’d need more... probably about 20!
THE LAZY WOOD GATHERER


TWO GOATS ON THE BRIDGE

MILLERS AND COALMEM


A Zen story from Japan
A WEEKEND WITH WENDELL
On Friday afternoon Wendell’s parents dropped him off at Sophie’s house.
“Wendell’s going to spend the weekend with us,” said Sophie’s mother, “while his parents visit relatives out of town.”
“Oh boy!” said Wendell.
Sophie didn’t say anything.
After a snack, Sophie helped Wendell carry his sleeping bag and suitcase upstairs.
“Well, what are we going to do now?” asked Wendell. “Do you have any toys?”
Sophie pointed to her toy chest.
“Is that all you’ve got?” said Wendell. “I’ve got a million times more than that. What else is there to do around here?”
“We could play house?” said Sophie.
“Only if I can make the rules,” said Wendell.
So they played house and Wendell made the rules.
He was the father, the mother, and the five children. Sophie was the dog.
Then they played hospital.
Wendell was the doctor, the nurse, and the patient. Sophie was the desk clerk.
When they pretended they worked in a bakery, Wendell was the baker and Sophie was a sweet roll.
“Isn’t this fun?” said Wendell.
Sophie didn’t say anything.
At dinner Wendell said that he was allergic to anything green—so he didn’t have to eat his vegetables. And then, when Sophie wasn’t looking, he scooped the whipped cream off her dessert.
“When is Wendell leaving?” whispered Sophie.
“Soon,” said her mother.
“Soon,” said her father.
After Sophie’s parents tucked Sophie in her bed, zipped Wendell in his sleeping bag, kissed them both, and turned off the light, Wendell grabbed his flashlight and shone it right in Sophie’s eyes.
“SEE YOU TOMORROW!” he said smiling.
Sophie shut her eyes. “I can’t wait for Wendell to go home,”
she said to herself.
On Saturday morning, when Sophie woke up, there was a lumpy blue monster jumping up and down on her bed. It was Wendell.
She felt something pinch her leg at breakfast. It was Wendell.
She heard scary noises coming from the broom closet. It was Wendell.
Wendell used Sophie’s crayons and left them on the porch so they melted.
At lunch Wendell finger-painted with his peanut butter and jelly.
“Isn’t this fun?” said Wendell.
Sophie didn’t say anything.
“When is Wendell leaving?” whispered Sophie.
“Soon,” said her mother.
“Soon,” said her father.
At bedtime, when Sophie put her head on her pillow, she heard something crunch. It was a note from Wendell. It said, “SEE YOU TOMORROW!” Sophie shut her eyes. “I can’t wait for Wendell to go home,” she said to herself.
Before Wendell’s parents picked him up on Sunday morning, he tried to make a long-distance call, he wrote his name on the bathroom mirror with toothpaste, and he gave Sophie a new hairdo with shaving cream.
“Want to go outside to help me wash this off?” asked Sophie. “We could play fire fighter.”
“Oh boy!” said Wendell.
So they played fire fighter—and Sophie made the rules.
She was the fire chief. Wendell was the burning building.
“Isn’t this fun?” said Sophie.
Wendell didn’t say anything.
“Do I get to be the fire chief?” asked Wendell.
“Maybe,” said Sophie.
Soon Wendell and Sophie didn’t care who was the fire chief or who was the burning building.
“Time to go!” said Sophie’s mother.
“Time to go!” said Sophie’s father.
“Already?” said Wendell.
“Already?” said Sophie.
“When is Wendell coming back?” asked Sophie.
“Never!” said her mother.
“Never!” said her father.
That afternoon, when Wendell unpacked his suitcase, he heard something crunch. It was a note from Sophie.
It said, “I HOPE I SEE YOU SOON!”
Kevin Henkes (1996).
A weekend with Wendell.
New York: Greenwillow Books.
THAT BOOK WOMAN

My folks and me we live way up as up can get. So high we hardly sight a soul—‘cept hawks, a-winging in the sky and critters hid among the trees.
My name is Cal, and I am not the first one nor the least one neither. But I am the oldest boy, and I can help Pap with the plowing and I can fetch the sheep when they take a-wander.
And I can bring the cow home too, come evening-time, which is right handy, seeing as how my sister Lark would keep her nose a-twixt the pages of a book daybreak to dusky dark if Mama would allow. The readenest child you ever did see—that’s what Pap says.
Not me. I was not born to sit so stoney-still a-staring at some chicken scratch. And I do not fancy it one bit when Lark plays Teacher—the onliest school a jillion miles back down the creek. And even Lark can hardly spread her wings and fly. So now she aims to school us herself. But me, I am no scholar-boy.
That’s why I am the first to hear the clippitty-clop and spy the sorrel mare—red as clay. I am the first to know the rider is no man at all, but a lady wearing britches for all the world to see.
‘Course we make that stranger kindly welcome and she’s friendly as can be, and after sips of sassy tea she lays her saddlebag upon the table and what spills out might just as well be gold the way Lark’s eyes shine penny-bright, the way her hands they won’t keep still, reaching out to grab a treasure.
Now what that lady brings it’s sure no treasure, not to me, but books! Would you believe? A passel of books she’s packed clear up the mountainside! A hard day’s ride and all for naught, I reckon. For if she aims to sell her wares just like the tinker-man who travels ‘round with pots and pans and such, it’s but a plain and simple fact, we have no greenbacks here, no shiny coins to spend.
Least-ways not on dumb old books.
Well, Pap he takes one look at Lark and clears his throat.
“A trade,” he says. “A poke of berries for one book.”
My hands double fist behind my back. I yearn to speak, but daren’t. It is the very poke I picked—for pie, not books.
To my surprise that lady shakes her head real firm. She will not take a poke of berries nor a mess of greens nor any thing Pap names to trade. These books are free, as free as air! Not only that—why, two weeks to the day she’ll come again to swap these books for more!
Now me, I do not care one hoot for what that Book Woman has carried ‘round, and it would not bother me at all if she forgot the way back to our door.
But here she’ll come right through the rain and fog and cold. That horse of hers sure must be brave, I reckon.
Comes on a time the world turns white as Granpap’s beard. The wind it shrieks like bobcats do deep inside the dark of night. So here we sit tucked ‘round the fire, no thought to howdy-do’s this day. Why, even critters of the wild will keep a-hid come snow like this.
But sakes alive—we hear atap tap tap upon the window-glass. And there she be—wrapped tip to toe!
She makes her trade right through the crack to keep us folks from catching cold. And when Pap bids her stay the night, she only shakes her head.
“My horse will see me home,” she says.
I stand a spell to watch that Book Woman disappear. And thoughts they go a-swirling ‘round inside my head, just like the whirly-flakes outside our door.
It’s not the horse alone that’s brave, I reckon, but the rider, too.
And all at once yearn to know what makes that Book Woman risk catching cold, or worse.
I pick a book with words and pictures, too, and hold it out.
“Teach me what it says.”
And Lark, she does not laugh or even tease, but makes a place, and quiet-like, we start to read.
Pap says it’s written in the signs how long or short the winter stays. This year the signs they all foretold of deepest snow, of cold eternal.
And even though most days we’re tight as toes pinched into boughten shoes, I do not mind. A puzzlement, I know, but true.
It’s nigh on spring before that Book Woman can stop to visit a spell. And Mama makes a gift—the only precious thing she can—her recipe for berry pie, which is the best grub earthly.
“Not much, I know, for all your trouble,” Mama says, and then her voice goes low with pride, “and for making two readers outta one.”
I duck my head and wait until the very last to speak my mind:
“Wish there was something I could gift you too.”
That Book Woman turns to look at me with big dark eyes.
“Come here, Cal,” she says real gentle, and I come close. “Read me something.”
I open up the book I’m holding, a new one brought this very day. Just chicken scratch, used to figure, but now see what’s truly there, and I read a little out.
“That’s gift enough,” she says, and smiles so big, it makes me smile right back.
Author’s Note
This story was inspired by the true and courageous work of the Pack Horse Librarians, who were known as “Book Women” in the Appalachian Mountains of Kentucky.
The Pack Horse Library Project was founded in the 1930s as part of President Franklin D. Roosevelt’s Works Progress Administration in order to bring books to remote regions where there were few schools and no libraries. High in the hills of Kentucky, roads were often just creek beds or rough trails. A Book Woman would travel, by horse or by mule, the same arduous route every two weeks, carrying a load of books—in good weather and in bad. To show their gratitude for what came “free as air,” a family might make a gift from what little they had: garden vegetables, wildflowers, berries, or cherished recipes passed down through generations.
While there were a few men among the Pack Horse Librarians, the jobs were mainly filled by women, in a time when most people felt that “a woman’s work was in the home.” The Book Women were remarkable in their resilience and their dedication. They were paid very little, but they were proud of what they did: bringing the outside world to the people of Appalachia, and sometimes making readers out of those who had never seen much use for “chicken scratch.”
In Kentucky, creek beds and trails eventually became roads. Horses and mules gave way to the kind of Bookmobiles that still exist today. All across the country, dedicated librarians continue to bring books to folks who need them.
Heather Henson
That Book Woman
New York, Atheneum Books, 2008
TOMÁS AND THE LIBRARY LADY
It’s not easy moving time and again, but Tomás and his family are migrant workers who travel from state to state, helping farmers harvest their crops. When they arrive in Iowa for the summer, Tomás finds an escape from the scorching heat at the town library.
And once inside, he also discovers a surprising world filled with dinosaurs, tigers, and a great new friend.
It was midnight. The light of the full moon followed the tired old car. Tomás was tired too. Hot and tired. He missed his own bed, in his own house in Texas.
Tomás was on his way to Iowa again with his family. His mother and father were farm workers. They picked fruit and vegetables for Texas farmers in the winter and for Iowa farmers in the summer. Year after year they bump-bumped along in their rusty old car.
“Mamá,” whispered Tomás, “if I had a glass of cold water, I would drink it in large gulps. I would suck the ice. I would pour the last drops of water on my face.”
Tomás was glad when the car finally stopped. He helped his grandfather, Papá Grande, climb down. Tomás said, “Buenas noches”—“Good night”—to Papá, Mamá, Papá Grande, and to his little brother, Enrique. He curled up on the cot in the small house that his family shared with the other workers.
Early the next morning Mamá and Papá went out to pick corn in the green fields. All day they worked in the hot sun. Tomás and Enrique carried water to them. Then the boys played with a ball Mamá had sewn from an old teddy bear.
When they got hot, they sat under a tree with Papá Grande.
“Tell us the story about the man in the forest,” said Tomás.
Tomás liked to listen to Papá Grande telling stories in Spanish. Papá Grande was the best storyteller in the family.
“En un tiempo pasado,” Papá Grande began. “Once upon a time ... on a windy night a man was riding a horse through a forest. The wind was howling, whooooooooo, and the leaves were blowing, whish, whish…
“All of a sudden something grabbed the man. He couldn’t move. He was too scared to look around. All night long he wanted to ride away. But he couldn’t.
“How the wind howled, whooooooooo. How the leaves blew. How his teeth chattered!
“Finally the sun came up. Slowly the man turned around. And who do you think was holding him?”
Tomás smiled and said, “A thorny tree.”
Papá Grande laughed. “Tomás, you know all my stories,” he said. “There are many more in the library. You are big enough to go by yourself. Then you can teach us new stories.”
The next morning Tomás walked downtown. He looked at the big library. Its tall windows were like eyes glaring at him. Tomás walked around and around the big building. He saw children coming out carrying books. Slowly he started climbing up, up the steps. He counted them to himself in Spanish. Uno, dos, tres, cuatro… His mouth felt full of cotton.
Tomás stood in front of the library doors. He pressed his nose against the glass and peeked in. The library was huge!
A hand tapped his shoulder. Tomás jumped. A tall lady looked down at him. “It’s a hot day,” she said. “Come inside and have a drink of water. What’s your name?” she asked.
“Tomás,” he said.
“Come, Tomás,” she said.
Inside it was cool. Tomás had never seen so many books. The lady watched him.
“Come,” she said again, leading him to a drinking fountain. “First some water. Then I will bring books to this table for you. What would you like to read about?”
“Tigers. Dinosaurs,” said Tomás.
Tomás drank the cold water. He looked at the tall ceiling. He looked at all the books around the room. He watched the lady take some books from the shelves and bring them to the table.
“This chair is for you, Tomás,” she said. Tomás sat down. Then very carefully he took a book from the pile and opened it.
Tomás saw dinosaurs bending their long necks to lap shiny water. He heard the cries of a wild snake-bird. He felt the warm neck of the dinosaur as he held on tight for a ride. Tomás forgot about the library lady. He forgot about Iowa and Texas.
“Tomás, Tomás,” said the library lady softly. Tomás looked around. The library was empty. The sun was setting.
The library lady looked at Tomás for a long time. She said, “Tomás, would you like to borrow two library books? I will check them out in my name.”
Tomás walked out of the library carrying his books. He ran home, eager to show the new stories to his family.
Papá Grande looked at the library books. “Read to me,” he said to Tomás.
First Tomás showed him the pictures. He pointed to the tiger. “¡Qué tigre tan grande!” Tomás said first in Spanish and then in English, “What a big tiger!”
“Read to me in English,” said Papá Grande.
Tomás read about tiger eyes shining brightly in the jungle at night. He roared like a huge tiger. Papá, Mamá, and Enrique laughed. They came and sat near him to hear his story.
Some days Tomás went with his parents to the town dump. They looked for pieces of iron to sell. Enrique looked for toys. Tomás looked for books. He would put the books in the sun to bake away the smell.
All summer, whenever he could, Tomás went to the library. The library lady would say, “First a drink of water and then some new books, Tomás.”
On quiet days the library lady said, “Come to my desk and read to me, Tomás.” Then she would say, “Please teach me some new words in Spanish.”
Tomás would smile. He liked being the teacher. The library lady pointed to a book.
“Book is libro,” said Tomás.
“Libro” said the library lady.
“Pájaro,” said Tomás, flapping his arms.
The library lady laughed. “Bird,” she said.
On days when the library was busy, Tomás read to himself. He’d look at the pictures for a long time. He smelled the smoke at an Indian camp. He rode a black horse across a hot, dusty desert. And in the evenings he would read the stories to Mamá, Papá, Papá Grande, and Enrique.
One August afternoon, Tomás brought Papá Grande to the library.
The library lady said, “Buenas tardes, señor.” Tomás smiled. He had taught the library lady how to say “Good afternoon, sir” in Spanish.
“Buenas tardes, senõra,” Papá Grande replied.
Softly Tomás said, “I have a sad word to teach you today. The word is adiós. It means good-bye.”
Tomás was going back to Texas. He would miss this quiet place, the cool water, the many books. He would miss the library lady.
“My mother sent this to thank you,” said Tomás, handing her a small package. “It is pan dulce, sweet bread. My mother makes the best pan dulce in Texas.”
The library lady said, “How nice. How very nice. Gracias, Tomás. Thank you.” She gave Tomás a big hug.
That night, bumping along again in the tired old car, Tomás held a shiny new book, a present from the library lady. Papá Grande smiled and said, “More stories for the new storyteller.”
Tomás closed his eyes. He saw the dinosaurs drinking cool water long ago. He heard the cry of the wild snakebird. He felt the warm neck of the dinosaur as he held on tight for a bumpy ride.
Pat Mora
Tomás and the library lady
New York, Dragon fly, 2000




THE RING

When I was growing up, my mother had a ring she never took off. It was the only ring I ever saw her wear during my childhood. It was made of a shiny silvery metal with an oblong penny-brown metallic piece upon which two hearts were attached in the center. She wore it when she swept, when she mopped, when she made her large mound of golden flour tortillas, when she sewed on her treadle Singer sewing machine and when she washed clothes on the rubboard. She didn’t really have any other jewelry, and, in fact, I remember my father saying that he didn’t even buy her a ring when they were married. He hadn’t thought about it, and during the ceremony, they had borrowed her brother Charlie’s ring.
The years passed. My father, who had come from Mexico in the 1920s to try to earn a living, worked long, long hours at the service station he operated. And my mother, who was also from Mexico, toiled at home, keeping house for her husband and eight youngsters. With his hard work and her thriftiness, they sent their first son off to college, then another child and then another. The older children helped with the expenses of the younger ones. Just as the last two children were graduating from college, my father died suddenly of a heart attack, but my mother lived on for another twenty-three years. Their children had become lawyers, businessmen and teachers. In the last years of her life, my mother was finally able to enjoy the luxuries that had always been denied her. She was even able to buy some jewelry, which, I was surprised to learn, she really loved.
A few years before she died, she told me that she wanted her jewelry to go to her granddaughters. And when she died, it was done. A diamond ring to this one, a pearl ring to that one, an opal ring to another, and so it went. Then I discovered it: her first ring. Now I could identify the metal. The ring was a thin, fragile thing by now, a small strip of stainless steel attached to two small hearts on either side of an oblong-shaped piece of copper. It had been worn so long that the copper had become unattached to the circle. Its value was naught. I took the ring, polished it with a cloth and carried it to the bank to place in a safety-deposit box. To me, it was a gem that symbolized the sacrifices my mother had made for us and the values that she lived. How many years had she worn it? How many times had she denied herself so that we might succeed? Why did she save this ring when it seemed worthless? Was it a symbol to her, too? The rest of my family doesn’t quite understand this, but when I look at that ring, I see the priceless jewel of my mother’s strength and the brilliance of the love that she showed us every day of her life.
Esther Bonilla Read,
Chicken Soup for the Soul

Chicken Soup for the Soul
IN THE EYE OF THE STORM
Sometimes our light goes out but is blown into flame by another human being.
Each of us owes deepest thanks to those who have rekindled this light.
Albert Schweitzer
Golden leaves fell across the country in mid-November, but the autumn beauty would soon not matter to Helen Weathers. For on the night of her fifty-ninth birthday, her life was swept completely out from under her. She had just finished celebrating at a restaurant with some of her closest friends and was getting ready for bed when she felt like a jagged piece of glass pierced her head. Then, the lights went out for Helen. For a long time. Most signs of life disappeared instantaneously when an aneurysm struck down this vivacious woman.
Five days later, her dearest friends, her husband, Robert, and the rest of her family waited patiently through a six-hour brain operation to see if Helen would survive. Her unopened birthday gifts sat at home on her table just the way she left them. The gifts would remain untouched for months, for after the surgery, she suffered a stroke.
Helen had always dressed with flair and elegance. This now bald woman lay helpless in a hospital bed day after day. She probably would have been embarrassed had she been herself and able to see the friends pouring in and out of her room. Later, she would be grateful. The endless stream of visits, flowers and food for her family gave her relatives the buoy they needed to survive the icy waters. Helen believes the love and support also kept her alive in the midst of the storm. Within a few weeks, many friends had a prayer chain going for her, hoping to bring her back from the brink of death. Their hopes and prayers were answered. But Helen could barely recognize herself. “I couldn’t remember what I looked like before,” she says. “I don’t remember when I discovered I had no hair. My cousin Elsa said that when I looked in the mirror and saw I had no hair, I turned to Robert and her and said: ‘I have no teeth.” Helen’s friends continued to send flowers, food and cards. One of her closest friends brought her pictures of all her dogs: Doodles, Ms. Liberty and Taffy. Robert and their daughter, Sandra, brought her new makeup. Everyone wanted her back even though it became clear that Helen might never be the same woman again. At times, she was like a stranger. To others—and to herself.
When she started recovering, she had much to learn. How to write her name again. How to walk. How to speak clearly. How to dress herself. Sometimes, she felt like a baby. But her brain surgeon said it was a miracle she was alive. Helen was almost like a child. Her sentences were gibberish. She giggled uncontrollably. Then she’d cry. She was hospitalized for nearly half a year undergoing rehabilitation and trying to return to her former self. She was placed in intensive therapy and was given classes in arithmetic, which confounded her and left her trying to count things out on her fingers. Finally, she gave up and started using a calculator. “One of my favorite bon mots is: ‘In real life, there is no algebra!”
In therapy, one of the happiest incidents she recalls was being allowed to go out to a Wal-Mart to Christmas shop so her doctors could see if she could make it in a “real world.” Helen was delighted, though confused a bit, and finished all her shopping in the first two aisles. After seven months, she made it home to husband, Robert, and dogs, Doodles, Ms. Liberty and Taffy. Today Helen is restored to her former self and has gained back her abilities to paint, walk and speak.
“I am convinced that the only reason I was spared is to inspire others,” Helen says from her home where she receives dozens of calls a day from people seeking help with similar disabilities. “I have been in the trenches with people who have suffered like this. I know lots of people were pulling for me. Now, it’s my turn to encourage people to go to rehabilitation and hang in there.”
Helen is often asked: “How long did it take you to learn to write again?”
“Seven months,” she replies and then adds, “and almost that long to keep from putting lipstick under my nose.”
When Helen receives phone calls for help, she never turns anyone away. Because she knows deep in her heart that it was love and caring that guided her out of the storm and helped her wade safely back to shore.
Helen Weathers
Jack Canfield, Victor Hansen, et al.
Chicken Soup for the Golden Soul:
Heartwarming Stories for People 60 and Over
Florida, Health Communications, Inc., 2000
A KITTEN CALLED MOONLIGHT

“I’d like my story again,” Charlotte said.
“Which story?” asked Mummy.
“The one I like best, about Moonlight and me,” Charlotte said.
“I thought that’s the one it might be,” Mummy said.
“Once there was a white kitten called Moonlight,” Mummy said.
“We don’t know he was called Moonlight,” Charlotte said. “We just know he got lost.”
“That’s right,” Mummy said, “the little kitten was lost and alone, and wandering about. It was a cold winter night.”
“The little kitten was crying,” said Charlotte. “Maybe he wanted someone to find him.”
“Maybe he did. We don’t know. Then a big something came.”
“It was a car,” Charlotte said.
“I expect the little kitten had never seen a car before,” Mummy said. “He was scared and he hid. The car lights shone into the dark. And there were two shiny bright eyes. Somebody saw them.”
“I know who saw them!” said Charlotte.
“It was a little girl,” Mummy said. “She had been to a party. The little girl told her mummy she had seen something move in the dark.”
“‘There’s something down there by the boats’,” Charlotte said. That’s what the little girl told her mummy.”
“Yes,” Mummy said. “But her mummy hurried her into the house. She didn’t want her to catch cold.”
“What happened then?” asked Charlotte.
“The little girl had her supper and her mummy put her to bed. Later she came to see if the little girl was asleep.”
“But the little girl’s bed was empty,” said Charlotte. “The duvet was thrown right back, and the little girl wasn’t there. ‘My goodness, where can she be?’ thought her mummy.”
“Something like that,” Mummy said. “Her mummy searched all over the house.”
“I like this bit,” Charlotte said.
“She found the little girl curled up by the window, gazing out at the dark sea and the moonlight that shone on the shore. ‘What are you doing up out of bed?’ asked her mummy.”
“‘There is something down there by the sea. I know that there is.’ That’s what the little girl told her mummy,” said Charlotte.
“Yes she did,” Mummy said, “and her mummy didn’t believe there was. But she thought for a bit and said, ‘We’ll take a look to make sure.’”
“The little girl and her mummy went down to the shore,” Charlotte said.
“Yes,” Mummy said. “They searched and they searched but they couldn’t find anything. ‘Something was here’, said the little girl.”
“She knew she was right,” Charlotte said.
“Yes,” Mummy said. “But her mummy still didn’t believe her. She told the little girl, ‘We’ll take one more look, just in case.’”
“The little girl and her mummy walked out on the rocks. There was only the moonlight to see by. They walked right out by the edge of the sea – and what do you think they saw there?”
“It was a kitten!” said Charlotte.
“A little white kitten,” said Mummy, “all thin and bony and cold. It was on a stone with the sea splashing around it. The poor little kitten was hungry and scared. The little girl and her mummy got splashed. But they rescued the kitten…”
“…and the little girl carried him all the way home.”
“She gave the kitten some warm milk and he went to sleep in her arms. And after a while the little girl felt sleepy too, and her mummy carried her and the kitten upstairs. She tucked the little girl in her bed all cosy and—”
“You’ve forgotten the best bit,” said Charlotte. “Her mummy said if no one owned the kitten they could keep him for ever. She said they should find a good name for the kitten and the little girl knew straight away what it should be. ‘Moonlight would be a good name,’ she told her mummy. ‘We’d never have found him without the moonlight.’”
“So that’s what they called their kitten,” Mummy said. “Now you’ve told me the end of your story.”
“We love that story, don’t we Moonlight?” Charlotte said.
“And I know why,” said Mummy.
“We love it because it is all about us,” Charlotte said. “Moonlight and Mummy and me.”
Martin Waddell
A Kitten Called Moonlight
London, Walker Books, 2006
URL da imagem: http://favim.com/orig/201106/30/
cat-girl-kitten-kitty-leash-little-girl-Favim.com-89301.jpg
SHARIFA'S STORY

Introduction
Dear Zari is a book by Zarghuna Kargar, an Afghan woman now living in London, who presented the BBC World Service programme “Afghan Woman’s Hour”. This was a profoundly influential project that gave support, education and encouragement to millions of women and men across Afghanistan. For several years “Afghan Women’s Hour” aired discussions, covering difficult – often taboo – subjects, and Zarghuna heard from hundreds of women eager to share their stories. It is these true stories which have inspired her to write this book – a powerful collection of testimonies that depict the oppression and suffering of Afghan women.
“Sharifa’s story” is one of the thirteen life stories included in the book.
♦♦♦♦
In Afghanistan, women usually become mothers a year or so after marriage. It’s perfectly normal for Afghan women to have up to four or five children; in fact, even that would be considered a small family. For most Afghan women the purpose of marriage is simply to have a family, but her family is not considered complete until she produces a son. Any woman who manages to give birth to a succession of sons is cherished by her husband, praised by her mother-in-law and respected by her community. In this way, the mother feels proud of having achieved what she believes she was born to do. If on the other hand a woman is unable to produce a boy, she feels a failure and her life is made miserable.
As a result, Afghan women tend to go on having babies one after another until a son is born; some women will even give birth to more than ten children in order to achieve their goal. Any woman who gives birth to a boy soon after her marriage is considered to be very fortunate, so many women spend much of their pregnancy praying and worrying about whether or not they will have a son. At special occasions families will ask God to bless them with a son, and it is customary at wedding ceremonies for older Afghans to approach the young bride saying, ‘May you become the mother of sons.’ In my Pashtun community, there are even special songs that reinforce the desire for male children, such as ‘A Son Is Gold’ and ‘God Only Gives Sons to Those Who Are Loved’.
Sons are so important in our culture that some mothers will go so far as to neglect their daughters in favour of their sons. I’ve spoken to girls who’ve told me that at Eid their parents will buy new clothes for their brothers but not for them, and in some houses I have seen how mothers will serve their sons a large piece of meat while only giving their daughters a bowl of soup. I remember an Afghan relative who once visited us with her two daughters and son. She looked at me and my four sisters and exclaimed, ‘Oh my God, seeing so many girls together is very frightening. I wouldn’t know how to cope with so many of them.’
♦♦♦♦
I’ve lost count of how many times I’ve wished I’d been born a boy; I know my older sister feels the same. Before my brother was born, when female friends and neighbours asked my mother about her children, she would look sad and they would sympathise with her for not having a son. Some women in our family would deliberately make spiteful comments about her lack of male children. I remember when one relative — who enjoyed none of the social and professional advantages our family did — had just given birth to a baby boy. She said in a cruel way to my mother, ‘Oh, this is the will of God. Some women have all life’s luxuries while others don’t. But a wife who is able to give birth to a boy really completes a family, and that makes her a proper woman.’ At this my mother became very upset; I could see the pain in her eyes, and thought that she felt she was to blame for not giving the family a son. We comforted her and wiped away her tears, although she tried to mask her distress.
‘Mum, whenever this woman comes to our house she makes you upset,’ I said. ‘Why is this? What does she say to hurt you?’
I remember my mother said, ‘My child, she’s lucky. She’s given birth to a boy, a son to the family. She’s not worried about the future.’
When I asked her how it was that boys could safeguard the future, she replied that they would always be able to take care of the family, their sisters and their mother. I told my mother that I could do that just as well as any boy, and that I would take care of her and my sisters, of the whole family. She smiled and stroked my cheek, saying, ‘I believe that you could do it but you can’t do it in the way that a boy could.’
The tendency for parents to place greater value on their sons than on their daughters is common to every ethnic group in Afghanistan. One day Tabasum, one of our reporters at Afghan Woman’s Hour, rang to say she had interviewed a mother who had given birth to twins, a boy and a girl, and that the way the mother treated them had made her angry. I asked her what had happened to make her feel like this. She said, ‘I’m used to seeing girls treated differently to boys, but I don’t think this mother would even care if her daughter died. Both her babies are six months old and the son is healthy and active, but the daughter thin and listless. I think she’s suffering from malnutrition. How can the twins be faring so differently? I’ve heard that the mother is breastfeeding the baby boy but has stopped breastfeeding the girl.’ Tabasum said this was because the mother believed the girl would one day be the property of another family, through marriage to someone else’s son, whereas the boy would make a family in his own parents’ home. He would bring a bride home and together they would one day care for his mother, so he needed to grow up healthy and strong.
Tabasum and I worked on this story together, and were keen to know what the mother was feeding the daughter. When we asked her, she said, ‘I tried to give my daughter bottled milk but she didn’t like it, that is why she’s suffering from malnutrition. I’ve even had to take her to the hospital a couple of times.’ Tabasum was very worried about the baby girl, saying to me ‘Zarghuna Jan, when I looked at the baby girl she seemed to be pleading with me to help her. She wasn’t kicking her arms and legs like a normal healthy six-month-old baby would, and I just didn’t know what to do or say. How could I tell her mother that what she was doing to her daughter was wrong when she believes what she’s doing is right?’
As part of the programme we interviewed a doctor who explained how important it was for mothers to feed their babies properly, regardless of their sex. The doctor said, ‘Dear mothers, think about both your sons’ and your daughters’ future. Would you want your son to marry a weak and unhealthy girl? Of course not! Every daughter will one day end up living in someone else’s house, and would you want your future daughter-in-law to be so unhealthy and weak that she couldn’t give birth?’
♦♦♦♦
If mothers don’t treat their daughters equally then how can we possibly expect men to treat us equally? A number of women spoke to us about how some family members had made them feel inferior simply because they were female, with one mother of four daughters telling us, ‘Every time I’ve given birth to a girl, my husband disappears from the house for days. I’ve even heard of fathers who haven’t so much as held their baby girls for a year, or spoken to their wife for months because they believe she was to blame for giving birth to a girl.’
As someone who grew up in a family of girls, I know just how much my mother suffered before she had my brother, but after listening to the stories of these mothers I felt both proud and lucky to be part of my family. Sharifa was not nearly so fortunate. She was a school friend when I was a teenager in Pakistan, and I’ve never been able to forget her story. It shows what happens to those girls who don’t have a brother, and to those mothers who don’t have sons.
Sharifa and I were classmates in 1998 at the university for Afghan refugees in Peshawar, and at the time we both lived in a crowded neighborhood populated mainly by Afghan refugees fleeing the Taliban’s occupation of Afghanistan. She was the oldest of six daughters who had been born with only one-year gaps between them all. Sharifa was usually full of energy and fun and loved messing around and playing practical jokes, and was popular with both her classmates and teachers. She was short with big green eyes, and I remember how she wore a dark blue hijab that was far too big and swamped her. I would meet Sharifa every day at a bus stop on the busy Arbab Road.
Sharifa and I enjoyed the journey to university each day, and would chat to the driver and talk amongst ourselves about our futures. However, there were days when Sharifa wouldn’t speak to anyone, not even me – her best friend. At first, I thought she was being rude and felt offended. Then if I asked her whether something was wrong, she would reassure me there wasn’t before turning away, lost in her thoughts.
One morning I arrived at the bus stop to find Sharifa in one of her silent moods, and decided to try to get to the bottom of what was wrong with her. When I asked her she replied, ‘Before I get married I want to have a check-up with the doctor to find out if I’m able to have a son. If I’m not able to, then I won’t get married at all.’ Neither of us knew at the time how the sex of a baby is determined, so I advised Sharifa to get married first and then worry about whether she had baby boys or girls.
But still she was upset. She would talk about wanting to make her future husband happy, and clearly believed that would only happen if she gave birth to ten sons. The other girls and I would make fun of Sharifa for being so desperate to get a husband, and she would grow angry with us but didn’t fight back. She would simply go quiet and retreat into her thoughts, yet we continued to poke fun at her. Then one day we realized we’d gone too far, and that Sharifa was very distressed. When we tried to tell her that we were only messing around, she said, ‘Yes, I know you’re only joking but it still upsets me. You don’t understand – my mother has given birth to seven girls, and if my father dies we won’t have anyone to look after us. My mother is not able to have a boy; she’s not strong enough.’
I had met Sharifa’s parents and so I was shaken by what she had told me. ‘Sharifa,’ I said, ‘you have six sisters and that means you’re strong. You also have a lovely mother and father, so you really shouldn’t worry.’ But whenever I met Sharifa’s mother, she always seemed to have just one thing on her mind. First she would ask after my mother, but then she would always ask about my brother. Similarly, the first question she would ask of her daughters’ friends would be how many brothers and sisters they had.
♦♦♦♦
One day I found Sharifa in tears, and I knew she was crying about her situation at home and had finally worked out why she was always asking about my brother and mother; she was trying to find someone else in a position vaguely similar to hers. But of course she thought I was far more fortunate than her because I did at least have one brother, and he represented security. I told Sharifa not to think in such a negative way, saying, ‘You have a big family and when you and your sisters get married it means you will have brothers, and your mother a son.’
But my words didn’t comfort her. ‘Zarghuna, you’ll never understand because you have a brother. I’m mostly upset for my parents. Because I’m the oldest daughter I’ve seen my mother weep every time she gives birth and discovers that it’s another girl. Each time it happens my dad won’t talk to her for months and life at home is wretched. Even my grandparents ignore my mother. It’s truly awful to see what happens to a woman when she’s incomplete.’
I tried to calm her down. ‘Listen, Sharifa, of course your mother is complete. Who says she isn’t? I’ve met her. She’s a beautiful and kind young woman—’
‘What would you know?’ she countered angrily. ‘She’s not complete because she hasn’t given birth to a boy. It’s as simple as that.’ Sharifa lowered her voice and confessed, ‘Sometimes I even get cross with her. If she could give birth to a son then at last we could have a happy life.’
‘Sharifa,’ I replied, ‘happiness doesn’t come like that. It comes with what you already have.’
I remember we were sitting in the corner of our college grounds, under the shade of a small tree. We would often sit there and chat. I wiped away the tears from Sharifa’s face with my scarf and tried to reason with her that it wasn’t anyone’s fault that she didn’t have a brother, or her mother a son. These things were in God’s hands, and there was no point in getting as upset about it as life has to go on. But Sharifa insisted that she personally was being blamed for the situation, ‘My grandmother says it’s my fault. I was the firstborn daughter and therefore all the other girls followed me. I brought bad luck on the family.’
I desperately wanted to do something to help Sharifa, but the bell went and we had to go to our next class. Sharifa dried her eyes and tidied up her hijab while I wiped the dust off my trousers. But after that conversation, I couldn’t stop thinking about Sharifa, and prayed that her mother would have a baby boy.
♦♦♦♦
Weeks passed, and school broke up for the holidays. A month later the new school term started and I saw Sharifa again. We hugged each other and met in breaktime under our usual tree. I couldn’t wait to hear her news; I wanted to know what clothes she’d made, what earrings she had bought and where she had been during the holidays. ‘Zarghuna, I’m so happy. I think our life is finally going to change for the better. My mother is pregnant again and we’re all hoping that this time she’ll give birth to a boy.’ I promised to pray for the outcome they longed for, but then suddenly she became very emotional. She looked down at that dusty floor and then up at me, before saying quietly, ‘Zarghuna, I really hope God will be kind to my mother this time. I so hope she gives birth to a boy, because if she doesn’t something terrible is going to happen’.
I looked at her for a few moments before asking what she meant. She looked down and then up at me again, and said, ‘My father is planning to get married again, and the marriage will be in exchange for me.’
I was horrified. ‘No, that can’t be right. He can’t do that!’
But Sharifa said simply, ‘If he does decide to take a new wife in exchange for me, I think I will die.’ Her words filled me with dread. Even at our young age, I knew she was contemplating suicide. We’d both heard of girls who had set fire to themselves to avoid arranged marriages; it was the last resort for those who feel trapped.
Sharifa took a deep breath and continued, ‘He has even chosen a girl who is the same age as me. In exchange for her, my father will give me to the other family’s son.’
‘You can’t just accept this,’ I said crossly, and reassured myself with the thought that nothing definite had been decided because Sharifa’s mother’s pregnancy still had some months to go, and she might yet give birth to a boy.
‘God will be kind,’ I said. ‘He will give your mother a son.’ Sharifa agreed and tried to be cheerful.
♦♦♦♦
Several months later Sharifa and her sisters were busy choosing names for the brother they so longed for and – as was the custom amongst the Afghan refugees in Pakistan – my mother and I went to visit the family (as it was usual for mothers to befriend the mothers of their daughter’s friends). We arrived to find Sharifa’s family all getting very excited in anticipation of what they hoped would be the arrival of a baby boy, and both my mother and I prayed that this time God would indeed give them a son.
We sat in Sharifa’s house in a small dark room with Afghan mattresses positioned by the walls and a traditional red Afghan carpet in the middle. The weather was unseasonably hot, so Sharifa served Roh Afza, a sweet juice that smells of perfume and is famous in Pakistan for its sugariness. As we sat drinking the juice, I could see how confident and hopeful Sharifa’s mother was in her heavily pregnant state, and was pleased to see the family so happy. It was one of the most enjoyable days we’d ever spent together.
A couple of weeks later I saw Sharifa at the bus stop where we used to wait for our school bus. As soon as she saw me she started crying, and passers-by stopped to stare at her outburst. Some even poked fun at her for crying on the street, making nasty comments – ‘Why are you crying? Do you need a man?’; ‘Are you crying for a husband? Why don’t you come with me?’, ‘What’s the matter, can’t you get a man? Do you want some cock?’
I hugged her tightly, not caring what these strangers were saying. I wished I’d been able to shout something back at them, but it wouldn’t have been safe. I looked closely at Sharifa, and said, ‘Try to calm down. What’s the matter? Has something happened to your mother?’
Sharifa was more upset than I’d ever seen her. She could barely speak without gulping for air. At last, she gasped, ‘Zarghuna, I’m ruined, my mother is destroyed, and everything is lost.’ Immediately I thought her mother must have had a miscarriage, or a serious problem while delivering the baby. Again I calmly asked her what had happened, but by this time Sharifa was crying hysterically and it was clear from her puffy, red eyes that she’d been crying for a long time. ‘Zarghuna, it’s another girl!’
I could see how exhausted she was, as if all the energy had drained from her body, and I decided to take her back to my home. When we arrived back at my house my mother was surprised to see us both, but I explained that Sharifa was upset and my mother accepted this without further question. I made some sweet tea and as we sat down on the carpet, I tried to calm Sharifa down. As I did so, I wondered what kind of society we were living in. How could it make any sense that an innocent baby girl could bring so much pain and suffering to Sharifa and her family?
I could only imagine that Sharifa’s mother was even more distressed than her daughter, and struggled to understand how a lovely baby girl could come into the world and not be wanted by anyone. She was being judged for her gender and it seemed bitterly unfair. Struggling to say the right thing to Sharifa, I ended up saying the first thing which sprang to mind, and it was far from helpful. ‘You should be happy, Sharifa. You have a little sister who will bring laughter and happiness—’
‘No,’ Sharifa shouted, ‘that baby has brought nothing but pain and sorrow, and my mother’s life is a living hell now. My dad is not speaking to her and no one has even congratulated her for bringing a healthy baby into world. My mother is not feeding her and I can’t even hold her.’
She lowered her voice and mumbled, ‘My family will be scarred forever by this, and now I have to marry some stranger that my father has chosen for me, because he is marrying a girl from that family in the hope of bringing a son to our family.’
I ventured some more useless advice: ‘Why don’t you show your father how upset you are and ask him not to make you go through with this?’
I knew even as I spoke that this would be impossible. In our culture fathers take no notice of what their daughters say, and once their decision is made about a daughter’s marriage, it is final.
I knew not only that Sharifa had no choice but to accept her father’s decision, but also that Sharifa’s mother would have to live with her husband’s new wife, a girl half her age. The usual practice was for a man to pay for a wife by giving her family money, but Sharifa’s father didn’t have enough money to buy a new bride so he had to exchange one of his daughters instead. For Sharifa’s father this arrangement would kill two birds with one stone; he would marry off one of his daughters and get a young bride who would give him a son.
After we’d spoken for a while Sharifa calmed down, we drank more tea and then I walked her home. When I got back it was clear my mother knew what had happened, so I asked what she thought Sharifa should now do. My mother said, ‘It’s a horrid situation, but if she doesn’t agree to the marriage exchange then her family will have even worse problems,’ and with that, she carried on tidying up the kitchen.
I knew only too well from my mother’s experience the consequences of not having a son in an Afghan family; mothers without sons and sisters without brothers have suffered for many generations. While the father and the head of the family is alive and well he is a powerful figure and his wife and daughters are secure, but when he dies the women become the property of the men of the extended family.
Strictly it is illegal for a girl to be given away to settle a family dispute or for her to be forced into marriage, but that doesn’t stop it happening. It is a common occurrence because domestic matters tend to be solved within the family, and as girls are not allowed to go to the courts or seek legal advice, they end up being totally dependent on their families. Regardless of illegality, most women simply obey their family and consider that whatever happens in their lives is God’s will. These young brides tend to be uneducated and therefore unaware of their legal rights, and while most men are aware of the law, they simply ignore it. They think the law should have no say in family matters.
♦♦♦♦
I remember my mother once telling me the story of Zulikha, a girl from her village. After the death of her father, Zulikha and her sisters were distributed amongst their male cousins and forced to marry them, while the mother was compelled to marry her dead husband’s brother. According to Afghan law, based on Islamic law, forced marriages are not allowed. Both parties need to consent to any marriage. However, many people do not fully understand the teachings of the Quran, so cultural traditions tend to take precedence over the letter of the law, and in Zulikha’s case Afghan tradition was followed. She had no brothers so her family were distributed like possessions amongst the male relatives of her dead husband’s extended family. The thinking behind this is that if the woman were to marry another man – a stranger – then the widow’s land would be lost to someone outside the family. The law states that husbands and wives have an equal share of land and property but in reality all assets are regarded as the man’s. So if a married man dies, then his brothers will come and take what they regard as theirs: the widow, her daughters and all the property.
As it turned out, Zulikha had quite a good life with her husband because he was educated and had enough money to look after her but she never forgot the fact that she was given to him like an ornament or toy of no value. She could never forgive what her uncle’s family had done to her sisters and her mother.
♦♦♦♦
I was aware that Sharifa also had cousins and knew what had happened to Zulikha, but at that time she seemed to be fine. A few months later, though, she stopped coming to school and I started to worry about her. No one seemed to know how things were with Sharifa and her family, so I decided to find out for myself and one afternoon I walked over to her house. It was a good half-hour’s walk from my home, and I was hot and bothered by the time I arrived. I knocked on the old wooden door and waited; but then I noticed it was ajar and tried to peek through it when Sharifa’s younger sister opened the door and invited me in. As I went into the garden I noticed there were piles of mud bricks and planks of wood everywhere; there seemed to be some sort of building work going on. Sharifa came out to greet me. I hadn’t seen her for several weeks – she had lost weight and become pale, and as I hugged and kissed her on the cheek as I normally would, I noticed that her lips were dry. I was sure something awful had happened.
‘Salam, Sharifa. What’s wrong? Where have you been? Why haven’t you been coming to class?’ I bombarded her with questions but she didn’t reply to any of them; then she began to cry. She asked me to come into her bedroom and began to tell me about the building work, but I interrupted her.
‘Are you building a new house or something?’
‘My dad needs a new room,’ she said.
I understood immediately what she meant. Sharifa’s father needed to have a room separate from the rest of the house for his new bride. Inside the house everything was as quiet as if there had been a death and the household was in mourning. No one laughed or smiled. Sharifa told me that her family had decided to exchange her for his new bride, a girl who was just seventeen, the same age as Sharifa and me. In return, Sharifa would be marrying a man in his forties whose wife had died. She would have to look after this man’s children and in so doing give up any dreams she might have had of a handsome young man of her own. Sharifa’s happiness was being sacrificed to secure her family’s future.
As I walked home I prayed fervently that there would be some kind of miracle, or that Sharifa and her family would reject this plan. Sharifa was forfeiting her future with no guarantee of the desired outcome. Who could be certain that the new wife would even give birth to a son? Sharifa’s extended family kept saying that people who marry again eventually have a son, but who knew whether that was true?
♦♦♦♦
Two months passed and I heard nothing from Sharifa. She wasn’t allowed to leave the house and I was busy with school and household chores. I would occasionally wonder what had happened to her but had gradually come to accept that it was her destiny to marry an old man and safeguard her family’s future. One afternoon after school, though, when I got off the bus, I saw one of Sharifa’s younger sisters in the street. She was out buying medicine from the chemist’s. I stopped her and anxiously asked how Sharifa was. She said that Sharifa had had to get married before her father brought the new bride home because Sharifa’s husband needed help with his five children, and that Sharifa was now their stepmother even though some of the children were almost the same age as her.
‘But where is she now?’ I asked. ‘Is she here in Peshawar?’ Her sister’s eyes filled with tears. ‘Yes, she’s in Peshawar but she’s living outside the city, in a remote village. Her husband’s house is a long way away and she’s not allowed to come and visit us very often.’
Sharifa’s sister started crying. ‘We don’t really see our sister any more. She’s too busy looking after her husband and his five children.’
I was trying to imagine how young the children must have been, seeing as Sharifa she was not much more than a child, and asked, ‘What about your dad? Did he bring home the new bride?’
The sister shook her head, and I asked why not.
‘My dad is seriously ill. He fell ill the week before he planned to bring home his new wife and was taken into hospital. I’m going now to take him these tablets that the doctor has prescribed.’
Sharifa’s eventful life started to occupy my mind once again. I explained to my mother what had happened and she immediately suggested we should go and visit Sharifa’s mother to see how she was. The next day my mother and I went to the family’s house. As I pushed open the old wooden door, I could see the garden was full of people and assumed they were celebrating Sharifa’s father’s wedding. Maybe he had gone ahead with it after all. But then I noticed that people were looking serious and that there was not the joyful atmosphere of a wedding. A group of men moved aside to let me and my mother into the house, and it was then that I heard the sound of crying.
We went into a room and found Sharifa’s mother weeping. She was sitting on the floor; her scarf lay crumpled by her side. Her daughters sat around her and they too were weeping, but Sharifa wasn’t among them. I approached Sharifa’s mother and bent down to kiss her. She hugged me and held me tight and I sensed she was thinking that as Sharifa’s friend I was somehow connected to her daughter.
‘My child, Sharifa’s sacrifice didn’t bring us any happiness.’
This wasn’t a wedding. It was a funeral. Sharifa’s father had died earlier that day, and he had died before bringing his new wife home or securing a son for the family. Sharifa’s mother began wailing and slapping her face.
‘Oh God, what will happen to us? I have lost two pieces of my heart: my daughter Sharifa and my husband. What will become of me and my daughters?’ She was rocking back and forth, calling out Sharifa’s name.
‘Sharifa, my child, come and see. Your sacrifice didn’t bring a son. Why did you have to leave me? Why? Now instead of you, Sharifa, your father’s new bride has to come and suffer with us.’
♦♦♦♦
I never saw Sharifa again. I stopped going to her house and I found it hard to accept that Sharifa had given up her education and was the wife of an older man and mother to someone else’s children. But her story, and my memories of our friendship, remain with me to this day.
Sharifa’s plight is not an unusual one.
I’m happy to be living now in a society where men and women are equally valued, and parents are happy to have either a baby daughter or a baby son.
Zarghuna Kargar
Dear Zari: Stories from Women in Afghanistan
London, Chaho & Windus, 2011
(Adapted)
Url da imagem: http://4.bp.blogspot.com/_ecQlHN2kZRA/SR9NqtTUWTI/
AAAAAAAACHA/kUm1NRvIaag/s400/refugee+women+4.jpg
MUSIC TO MY EARS

FINDING MY WINGS
I sat silently in the backseat as we drove home from an evening church program where I'd heard once again the wondrous story of Jesus' birth. And my heart flooded with happiness as the three of us hummed to familiar Christmas carols drifting from the car radio.
With my nose pressed against the side glass, I gawked at the department-store displays. As we passed houses with lighted Christmas trees in the windows, I imagined the gifts piled under them. Holiday cheer was everywhere.
My happiness lasted only until we came to the gravel road leading to our home. My father turned onto the dark country lane where the house sat two hundred yards back. No welcoming lights greeted us; no Christmas tree glowed in the window. Gloom seeped into my nine-year-old heart.
I couldn't help but wish for trees and presents like other children. But the year was 1939, and I was taught to be grateful for the clothes on my back and the shoes on my feet, to be thankful for a home — no matter how humble — and for simple food to fill my growling belly. More than once, I'd heard my folks say, "Christmas trees are a waste of money."
I guessed gifts must be, too.
Although my parents had climbed out of the car and gone into the house, I lingered outside and sank down on the porch steps — dreading to lose the holiday joy I'd felt in town, wishing for Christmas at my house. When the late-night chill finally cut through my thin dress and sweater, I shuddered and wrapped my arms around myself in a hug. Even the hot tears streaking down my cheeks couldn't warm me.
And then I heard it. Music. And singing.
I listened and looked up at the stars crowding the sky, shining more brightly than I'd ever seen them. The singing surrounded me, uplifting me. After a time, I headed inside to listen to the radio where it was warm.
But the living room was dark and still. How odd.
I walked back out and listened again to the singing. Where was it coming from? Maybe the neighbor's radio? I padded down the long road, glorious music accompanying me
all the way. But the neighbor's car was gone, and their house was quiet. Even their Christmas tree stood dark.
The glorious music, however, was as loud as ever, following me and echoing around me. Could it be coming from the other neighbor's house? Even at this distance, I could plainly see no one was there. Still, I covered the three hundred yards separating their house and ours.
But there was nothing and no one.
Yet to my ears the singing rang clear and pure. To my eyes the night stars shone with such radiance that I wasn't afraid to walk home alone. Once I reached my house, I sat again on the porch steps and pondered this miracle. And it was a miracle. For I knew in my young heart and soul I was being serenaded by the angels.
I was no longer cold and sad. Now I felt warm and happy, inside and out. As I gazed upward into eternity, surrounded by the praise of heavenly hosts, I knew I had received a joyous Christmas gift after all — a gift straight from God.
The gift of love.
The shining star.
And an everlasting Christmas.
Margaret Middleton
Jack Canfield; Mark Victor Hansen
Chicken Soup for the Soul. The Book of Christmas Virtues
Florida, Health Communications, 2005
Imagem: "Céu estrelado", quadro de Vincent Van Gogh
FINDING MY WINGS

Like so many other girls, my self-confidence growing up was almost nonexistent. I doubted my abilities, had little faith in my potential and questioned my personal worth. If I achieved good grades, I believed that I was just lucky. Although I made friends easily, I worried that once they got to know me, the friendships wouldn’t last. And when things went well, I thought I was just in the right place at the right time. I even rejected praise and compliments.
The choices I made reflected my self-image. While in my teens, I attracted a man with the same low self-esteem. In spite of his violent temper and an extremely rocky dating relationship, I decided to marry him. I still remember my dad whispering to me before walking me down the aisle, “It’s not too late, Sue. You can change your mind.” My family knew what a terrible mistake I was making. Within weeks, I knew it, too.
The physical abuse lasted for several years. I survived serious injuries, was covered with bruises much of the time and had to be hospitalized on numerous occasions. Life became a blur of police sirens, doctors’ reports and family court appearances. Yet I continued to go back to the relationship, hoping that things would somehow improve.
After we had our two little girls, there were times when all that got me through the night was having those chubby little arms wrapped around my neck, pudgy cheeks pressed up against mine and precious toddler voices saying, “It’s all right, Mommy. Everything will be okay.” But I knew that it wasn’t going to be okay. I had to make changes — if not for myself, to protect my little girls.
Then something gave me the courage to change. Through work, I was able to attend a series of professional development seminars. In one, a presenter talked about turning dreams into realities. That was hard for me — even to dream about a better future. But something in the message made me listen.
She asked us to consider two powerful questions: “If you could be, do, or have anything in the world, and you knew it would be impossible to fail, what would you choose? And if you could create your ideal life, what would you dare to dream?” In that moment, my life began to change. I began to dream.
I imagined having the courage to move the children into an apartment of our own and start over. I pictured a better life for the girls and me. I dreamed about being an international motivational speaker so that I could inspire people the way the seminar leader had inspired me. I saw myself writing my story to encourage others.
So I went on to create a clear visual picture of my new success. I envisioned myself wearing a red business suit, carrying a leather briefcase and getting on an airplane. This was quite a stretch for me, since at the time I couldn’t even afford a suit.
Yet I knew that if I was going to dream, it was important to fill in the details for my five senses. So I went to the leather store and modeled a briefcase in front of the mirror. How would it look and feel? What does leather smell like? I tried on some red suits and even found a picture of a woman in a red suit, carrying a briefcase and getting on a plane. I hung the picture up where I could see it every day. It helped to keep the dream alive.
And soon the changes began. I moved with the children to a small apartment. On only $98 a week, we ate a lot of peanut butter and drove an old jalopy. But for the first time, we felt free and safe. I worked hard at my sales career, all the time focusing on my “impossible dream.”
Then one day I answered the phone, and the voice on the other end asked me to speak at the company’s upcoming annual conference. I accepted, and my speech was a success. This led to a series of promotions, eventually to national sales trainer. I went on to develop my own speaking company and have traveled to many countries around the world. My “impossible dream” has become a reality.
I believe that all success begins with spreading your W.I.N.G.S. — believing in your worth, trusting your insight, nurturing yourself, having a goal and devising a personal strategy. And then, even impossible dreams become real.
Sue Augustine, 1996
BRAVE BEN

“I am such a coward,” Ben said to himself. “When someone pushes ahead of me in line at the bakery, I don’t say anything. When I wear my favorite pair of flowered overalls, I’m scared of being laughed at. And when I hear strange noises at night, I think it’s a spook under my bed. I need help.”
Ben looked in the Yellow Pages under “Help for Cowards”. He found the listing“ Magic Tree.” The ad said, “By appointment only. Success guaranteed.”
Magic! That’s just what I need, thought Ben. He called to make an appointment.
The next morning Ben walked to the wild, dark forest where the magic tree lived. “I am in the wild woods with all of the wild, weird creatures,” the tree had said on the phone. “But they are harmless, so don’t be afraid.”| It was a good thing the magic tree had warned Ben. On the way into the forest, a dreadful dragon suddenly appeared. He fumed big clouds of smoke through his nose. Every now and then he spit fire.| “Where do you think you are going?” the dragon roared. Ben could only gulp. Then he remembered that the magic tree had told him not to be afraid. So he looked right into those yellow dragon eyes and said, “Hello, Dragon. I am going to see the magic tree. I have an appointment.”| To Ben’s surprise the dragon answered very politely, “Walk right through. Take a left at the third swinging skeleton.| Please give my regards to the magic tree.”
As soon as Ben entered the forest, he heard a loud hissing noise… and before he realized what was happening, he found himself hanging upside down from a spider´s web.
An enormous hairy spider crawled toward him. “Mmm,” she hissed, “my favorite food!”
It was a good thing Ben knew the spider was harmless. Otherwise he would have been scared to death.
“Hello, Spider. Would you untie me, please I have to meet the magic tree.”
“Oh,” said the spider, sighing. “That’s a pity.” But she untied all the knots. “Tell the magic tree that his scarf is almost finished,” she said. “And have a good trip.”
Ben walked on through the forest. It was so dark that he could not see the path. Finally he saw an arrow with the words “Magic Tree” on it, but at that very moment an ice-cold hand gripped his neck.
Shocked, Ben turned around. An ugly witch stood behind him. Spiders and cockroaches hung in her hair. She smelled bad and her eyes sparkled spitefully.
“What are you doing in my garden?” she cackled.
Yikes! Ben thought. It’s a good thing I know she won’t do anything horrible.
“Good day, madam,” he said politely. “I didn’t know I was walking in your garden. I am on my way to the magic tree.”
“Oh,” said the witch. “No damage done. Here’s a pumpkin for the magic tree. It will make a lovely pie.”
Ben walked on, further into the forest. Bats flitted around his head and he heard wolves howling and other terrible screams, but he did not pay attention to any of that. He took a left at the third swinging skeleton.
There was the magic tree—large and important-looking.| “Hello, Magic Tree,” Ben said. “I am Ben. I have an appointment...”
“Well,” said the magic tree. “Did you not see the dragon?”
“Oh yes,” Ben said. “He asked me to give you his warmest regards.”
“No trouble with the spider?”
“Not at all. She has almost finished knitting your scarf.”
“And the witch?”
“She gave me this pumpkin to bring to you,” Ben replied.
“Ah,” said the magic tree. “Well, well. Hm. Uh. Er. Wellllll…”
And then he didn’t say anything for a long time.
Finally he asked, “How can I help you?”
“I want to be less afraid,” Ben said softly.
The tree nodded. Then he said solemnly, “That has already been taken care of by all that has happened today. You are now truly brave.”
Ben was happy on his way home. He was thinking, What a wonderful tree that is. It has changed me as if by magic into Brave Ben. Now I will never be a scared cat again.
At home Ben changed into his favorite pair of flowered overalls and went to the bakery.
“I am sorry, but I was first,” he told a girl who tried to cut in front of him.
He bought two cakes. One for himself, and one for the spook under his bed.
Mathilde Stein
Brave Ben
Asheville,
Lemniscaat, 2006
URL da imagem: http://siderare.files.wordpress.com/2011/01/arvore-homem.jpg
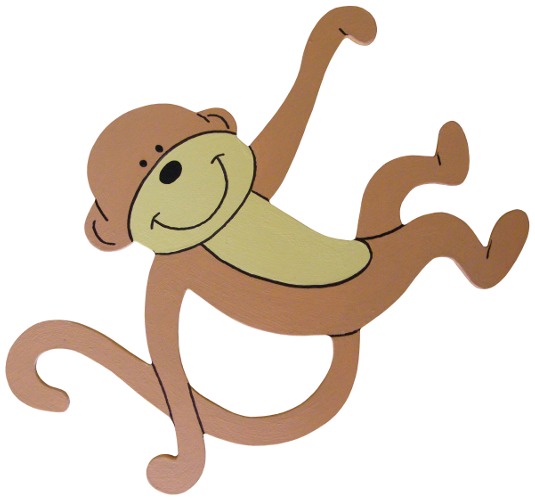
Relax, be very still and listen – listen carefully to this tale about a mischievous monkey who liked to play tricks on an old buffalo. That is, until one day when he learned a very important lesson. Would you like to know what this was? Let’s see if we can find out!|
Now ... the naughty little monkey and the kind-hearted old buffalo both lived in an ancient forest next to great grassland. Every day, when the sun was at its highest in the cloudless sky and it got really, really hot, the old buffalo would wander to the edge of the forest and rest in the cool shade of the trees. There, he would doze until the late afternoon. And then, when the heat was not so fierce, he would go out to graze with his herd on the grassland.
As for the mischievous monkey, his home was in the branches of a great tree. And every day, as the other monkeys sat grooming each other and chatting, he liked to wait for the old buffalo to doze off below.
“Hee hee! I think I’ll have some fun,” he would say gleefully, clapping his little hands.
One day, the monkey waited until he was certain that the buffalo was sound asleep. Then, he swung down and, hanging on to a branch by his tail just above the old buffalo’s head, he screeched: “Grooawww!”
The poor buffalo got such a fright. He jumped to his feet and looked around but couldn’t see anyone.| “What was that?” he muttered.
“Hee, hee, hee ... got you!” laughed the little monkey, as he threw leaves and nuts down on the old buffalo. Then, he scampered off into the trees, howling with laughter.
The buffalo sighed, shook his head and wandered off. “That little fellow gets naughtier by the day,” he thought to himself, and went in search of a quieter place.
Soon he found himself another inviting patch of shade and settled down to finish his afternoon nap. “What a lovely spot!” he said before drifting off to sleep, unaware that he had been followed by his cheeky little “friend”.
The monkey had swung over the tree tops and once again sat in the branches, just above the old buffalo, listening carefully. As soon as he heard him start to snore, he crept silently down from the tree and along the ground through the grass to pull the buffalo’s tail. “Ow! Ow! Ow!” yelped the startled old buffalo. He got to his feet and was about to leave when he heard laughter.
“Hee, hee, hee ... got you again!” laughed the naughty monkey as he swung up into the tree. Before he disappeared, he looked back and stuck out his tongue at the old buffalo.
“Oh dear ... it looks like I’m not going to get any rest today,” lamented the weary old animal.
"You’re a big strong buffalo and you have sharp horns, so why do you let that mischievous monkey bother you all the time?” asked a squeaky little voice.
‘What? Who said that? Oh, I’m so tired that I must be hearing voices!” said the buffalo to no one in particular.
“Hey, over here!” called the voice.
Looking around again the buffalo spotted the source of the comment – a smiling little snail with a shimmering brown shell, who was sitting on a rock near the tree.
“Oh I’m sorry, Mr Snail, I didn’t see you there,” said the old buffalo.
“That’s all right,” chirped Mr Snail, “I’m small and not easy to spot. But you’re big and strong. Why don’t you put a stop to that little monkey’s bad behaviour?”
“I don’t like bothering or hurting anyone,” replied the buffalo, “not even a tricky little monkey who shows me no respect.” The kind-hearted buffalo then bowed to the snail and said, “Thank you for your concern Mr Snail, but please don’t worry about me.” And he turned to wander back toward the grassland and find his herd.
Later that afternoon, a lone buffalo came to the edge of the forest. He had a very bad temper and because of this all the other buffaloes usually avoided him. He had been walking for many hours and was very tired, so he settled down for a rest at the foot of a tree and fell asleep.
The mischievous monkey was just finishing a rather large banana when he looked down from his branch high up in the tree and noticed the sleeping buffalo.
“Oh, he’s back, is he? Time for some more mischief!” the monkey chuckled to himself, not noticing that this was a different buffalo.
So, he swung down from branch to branch and somersaulted through the air onto the sleeping buffalo’s back. The lone buffalo roared and shot to his feet. “What do you think you’re doing?” he growled, as he threw the little monkey off his back with all his might.
“Ouch!” cried the monkey, as he hit the ground with a thud. Shocked, he realized that it was the wrong buffalo. And now he was in big trouble because the angry buffalo was about to charge at him. The monkey froze with fear.
Suddenly, from out of nowhere, the kind old buffalo appeared, warded off the furious beast and gently scooped the little monkey to safety! The wild buffalo stamped his foot, snorted and trotted off unhappily.
“Oh, thank you!” cried the little monkey gratefully to the old buffalo, “But I’ve been so mean to you. Why did you take the trouble to save me?”
“It was nothing,” replied the wise old buffalo modestly, “I just try to treat everyone as I’d like to be treated myself.” And with that, he trundled off to have a rest in another lovely patch of shade he’d spotted.
Often we don’t give enough thought to our behaviour. A wise person acts with respect and sympathy toward all beings, treating them in the same way that they’d like to be treated themselves.
Dharmachari Nagaraja
Buddha at bedtime
London, Duncan Baird Publishers, 2010
A DETOUR DO BOLIVIA
by Linda E. Allen

Once upon a time, I had an amazing job. I went to work every day enthusiastic and eager to enjoy my job. Then I’d do it again the next day just as excited as the day before.
This wonderful ride lasted about eight years. Then things changed. My dream job became a nightmare. Swinging-door leadership turned our once congenial and cooperative staff into disgruntled and disgusted employees. As for me, I was a walking pity party, inviting family and friends to listen to how miserable my job and life were. You can imagine how popular I was.
About that time, something I considered insignificant happened. I had recently returned from an amazing six-week exchange trip to Mexico and presented a program to the local Rotary club that had sponsored me.
My minister was in the audience that night. After the program, he came up to me and said, “Linda, I didn’t know you could speak Spanish. You know our church sends a medical and construction team to Bolivia every year. We’ve never had anyone who could speak even a few sentences of Spanish. I’d like you to think about going with us this year.”
I knew about the trip – and I also knew the trip was rough, rugged and not my kind of travel. But, to be courteous, I told him I’d think about it.
As he left, he said, “I’ll check back with you.”
He did. At 8:15 the next morning, he was sitting in my office. He told me the plans for that year: staffing a medical clinic and working on a church in Colqueamaya, a poor village high in the Andes Mountains. He said, “We will float a river on a raft, walk to and from the job sites and sleep on straw mats. Maybe there’ll be latrines and maybe not. It’ll be exciting, and I know you’ll enjoy it!”
I listened politely, but on the inside, I was rolling my eyes and thinking, “No way.” At that time, I was a sissy, prissy traveler. Camping and roughing it were for my husband and sons, avid campers and backpackers. I told my minister I would think about it.
In spite of my travel misgivings, I began to consider going. The idea my minister had planted began to flourish. I thought, “I’ll go on this trip so I can put some time and distance between me and my job. Maybe it will help me decide what to do.”
I decided to go on the trip for very selfish reasons. It would be a break from my job and unhappiness. I made a deal with myself: If things were better when I returned, I would know that I was the problem and I would have to leave the job.
My husband and sons thought, “They’ll life-flight her back on the first plane. She won’t make it. She can’t handle it.”
But I did make it. I surprised myself and amazed my family. I loved the experience!
On the trip, we experienced all the adventures my minister had promised and more. I worked with people who lived in extreme poverty. Most were herders or subsistence farmers. They lived in adobe brick houses with thatched roofs, slept on hard-packed dirt floors with a few blankets for warmth, and often ate only one simple meal a day. In spite of all this, they were happy, even joyful, and lived as if they had no cares in the world.
Their happiness puzzled and confused me. They had nothing and were happy. I had everything they didn’t have, and I was miserable.
I took a long, hard look at myself in the mirror. What I saw was not pretty. I asked myself, “What’s wrong with this picture? What’s wrong with you?”
The truth was ugly. I was all about ego, status, money and show. My priorities were upside down. I had some serious thinking and changing to do.
When I returned to my job, another surprise awaited me. Instead of the situation being better, it was much worse. I hadn’t considered that possibility. My decision to leave the job was easy; the financial consequences were not. Fortunately, my husband was supportive, and we downsized before it became popular.
I didn’t have another full-time job for two years. My 4,000-mile detour to Bolivia had derailed me from the fast track and the road to fame and fortune. I had many moments to consider what I had learned on the detour.
I realized that money is only a thing. People – family, friends and relationships – are more important than things. I learned that for me, a simple life is best. I am now blessed with less. My current job pays much less and has few perks – and I’m happy. Interestingly, the people around me are happier too!
Another plus – I’ve learned to rough and tough it with the best – and I like it! I go back to Bolivia as frequently as I can for a refresher course on what’s really important in life and for the right reasons.
So, if you find yourself on a rough, rocky road in life, keep putting one foot in front of the other. Maybe you’ll come to a detour like I did that will lead you to simple, happy experiences and adventures in your life.
Jack Canfield; Mark Victor Hansen
Chicken Soup for the Soul: Find Your Happiness
Florida, HIC Books, 2011
MANGALI’S UNFINISHED ‘KA’

“Oh Grandma, send me to school, won't you”.
While spoonfeeding milk to Grandma, Mangali says, “Oh Grandma, please ask Father to send me to school. If you told him, Grandma, then I’m sure he would send me to school”.
Laying back exhausted, unsure if she can swallow or not, Grandma gathers her strength and swallows the milk. With cloudy eyes she looks fixedly at Mangali. Poor Grandma doesn’t even have enough strength left to speak. Tears teeter at the corners of her eyes but they don’t fall.
"Grandma! Grandma!! Grandma!!!"
When she sees that Grandma is not speaking, Mangali grows uneasy. If only Grandma could speak to them! If only Grandma could say a word to Father. Something like 'Son, Mangali takes care of my every need. She's just a child and she goes to so much trouble for my sake! Send her to school, my dear. That will be a blessing upon you too.'
Mangali's young mind always makes its appeal this way: 'If Grandma just said this, then it would happen!'
But poor Grandma doesn't speak anymore; she just stares silently at everyone.
They live in Kathmandu but Kathmandu isn't Mangali's home. She was born in the hot southern plains called the Tarai. She's the daughter of a poor Tharu, a nasty man who used to beat her mother. Unable to stand the beatings, her mother secretly eloped when Mangali was still very little, leaving her behind, helpless in her infancy. Sometimes Mangali carried the babies of the high caste people. Sometimes she scrubbed someone’s pots and pans. Sometimes she washed glasses at the shopkeeper's tea stall. And then, one day, her father sent her, as a servant, to the house of Grandma, who is a relative somehow.
"Grandma! Grandma!! Grandma!!!"
Grandma stares at Mangali, saying nothing. She can't speak at all. Mangali's mind grows more and more uneasy. If anything happened to Grandma, what would she do? There are so many people, cars and roads in Kathmandu that Mangali would lose her way if anything happened to Grandma. Her mind trembles with fear and the world before her eyes looks dark, very dark.
"Grandma! Speak, won't you, my wise Grandma!"
But Grandma still doesn't speak. She can't speak, that Grandma.
After the milk, she feeds pomegranate seeds to Grandma. Ever so slowly, stopping over and over, Grandma is eating the pomegranate. Her eyes are fixed right on Mangali's eyes. Those eyes say, 'I have something to say'. But they can't say anything.
In the language of grief, Mangali pours her suffering from her eyes to Grandma's:
“When my father came with me to Kathmandu, he said you might send me to school. But no one did. Instead, the only things I hear are ‘Come over here, get over there, wash Grandma. Dry the floor. Clean the dishes. Do this, Mangali, do that, Mangali. Don't do that, Mangali!’ It is so hard for me, Grandma!”
Putting her mouth next to Grandma's ear, Mangali delivers her plea:
“Tell them not to abuse me! Yesterday, when I was trying to watch TV, they scolded me. When I sing, they laugh at me. Your son and daughter-in-law mind what you say. Your grandson and granddaughter mind what you say. Grandma, just say a word to them, won't you!”
But Grandma doesn't say anything. She can't speak at all. Tears glisten in the corners of her cloudy eyes which are glued right to Mangali's.
Now Mangali is massaging Grandma's aching calves. Responding to the soothing motion, Grandma goes to sleep and begins to snore.
Her eyes brimming over with tears, Mangali pours out the pain in her mind:
"Today Pratima kicked me. After putting polish on the shoes, I tried them on. And Pratima kicked me".
After saying that much, Mangali began to cry, her tears falling steadily. Grasping Grandma's hand she said, sobbing:
"Tell them not to beat me and ask your son to send me to school. If you told him, Grandma, then I’m sure he would send me to school.”
As if trying to say something, Grandma's lips moved sluggishly. But no speech came out. Whatever Grandma had tried to say faded away right on her lips.
The mother and father of this house go off to work. The children, Pratima and Puja, go off to school. All day long there is only Mangali and Grandma in the house. Every other moment, Grandma needs to go to the toilet but, since she is bedridden, she does everything on the spot and Mangali washes her over and over again.
Mangali has been tied to Grandma's side by a rope invisible to the eyes; she is confined to an invisible fortress. She has no chance to slip off and go anywhere. With things this way, there's not even a chance for her to take a carefree breath because Grandma often moans in agony.
Things never change, be it morning, afternoon or night, yesterday, today or tomorrow.
One day, getting ready to feed Grandma water with a spoon, Mangali said, "Grandma, I have found an old notebook and I've started to study. Do get well quickly. After I study, I will read stories from books to you!"
But Grandma was staring at Mangali in just the same way as ever.
There was an old notebook in Mangali's hand and a worn glass pen, which she had found in the wastepaper basket in Pratima’s room, the day before. In the notebook was the great big 'Ka', the very first letter of the alphabet. All over the pages of the notebook Mangali has written 'ka' after 'ka'. Looking at her own zig-zag 'ka's, she feels joyful and proud. The notebook is covered with many 'ka's.
"Grandma, I wrote all of these 'ka's. Look, Grandma, look. Can you see how many 'ka's I wrote?"
The day before, carrying her notebook in her hand, Mangali had bent over Grandma's face. Her teardrops had fallen upon Grandma's forehead and Grandma's heart had melted. Tears glistened in the corners of her eyes.
"Grandma, tell Father to send me to school!"
Moving her lips with great effort, speaking with a shallow, wheezing breath, Grandma said, "All right, Mangali, I'll tell him tomorrow".
Mangali was so happy that her heart soared like a kite into the sky.
But Grandma died that very night. When she woke up, Mangali realized mourning was going on all over the house.
Mangali's mind raced nervously. Carrying her notebook in her hand, she went to Grandma's side. Grandma's eyes, the eyes she had shown her 'ka's to, had closed never to open again.
Grandma had died, without having a chance to tell her son to send Mangali to school.
"Oh, Grandma, why have you gone away without sending me to school?"
Grandma was all stretched out, as if sleeping peacefully.
Eyes brimming with tears, Mangali was standing right by her side, the notebook covered with 'ka's still fluttering in her hand.
Khagendra Sangraula
Mangali’s unfinished ‘Ka’
Kathmandu, FinePrint

Bully B.E.A.N.S.
Bobbette was a big, bad bully.She made sure all the kids at my school k new that SHE WAS THE BOSS.
She’d tell all of us what to do … and we’d do it.
She’d tell all of us where to go… and we’d go there.
She’d tell all of us what to say… and we’d say it.
If we didn’t do what Bobbette told us to do, she’d look at us with her mean eyes. We all knew what that meant...
“If you don’t do exactly what I say...
I’ll twist you into a human pretzel!”
she’d tell us.
We all thought about what it would be like to be twisted into a human pretzel...and it scared us – a lot! So, we all ended up doing exactly what Bobbette told us to do, and we let her be the boss.
Bobbette liked to pick on kids, especially Winston. Winston is the smartest kid in our whole school.
Bobbette made Winston do all of her homework.
Bobbette made Winston give her all of his lunch money.
Bobbette liked to make Winston cry... and then she’d call him a crybaby.
Bobbette teased Winston every day. She said that if he didn’t do exactly what she told him to do... she’d twist him into a human mini-pretzel!
Nobody liked the way Bobbette treated Winston, but we were all too afraid to do anything about it.
Bobbette didn’t have any real friends, but she didn’t know that. Nobody liked Bobbette, but we pretended to like her so that she wouldn’t show us her mean eyes.
Last week, Bobbette asked me to go over to her house after school. I didn’t really want to go, but I went anyway. When we got to her house, her big brother Larry started bullying her!
He told her what to do... and she did it.
He told her where to go... and she went there.
He even told her what to say… and she said it.
Larry made Bobbette cry... and then he called her a crybaby. He told her that if she didn’t do his homework for him, he’d twist her into a human pretzel!!!
“I don’t ever have time to do my own homework” she whispered to me. “That’s why I make Winston do it for me.”
For the first time in my life, I started to feel sorry for Bobbette. I started to understand why she was so mean to everybody.
That night I went home and told my mom all about Bobbette.
I told her how mean she is to all of us and how mean her brother Larry is to her.
“Sounds like you have a true-blue bully on your hands” my mom said. “I’ll get out the Bully Beans!”
“Bully Beans? What are you talking about?
My mom reached into our kitchen cupboard and pulled out a bag of jelly beans. She grabbed a magic marker and wrote “Bully Beans” across the bag.
“Bully Beans are magic jelly beans that when chewed up, remind kids that THEY have the power to stop bullies.”
The “beans” in Bully Beans stands for: “Bullies Everywhere Are Now Stopped!”
“If you want to stop a bully, you have to take away their power. To do that you need to work together. Never hang out on the playground by yourself. Always stay with your friends in groups. Bobbette may be able to bully one of you, but I bet she won’t try to bully all of you at once.”
“When Bobbette picks on Winston, where do you and your friends stand?”
“Right next to Bobbette,” I said.
“Why is that?” asked my mom.
“We don’t want her to use her mean eyes on us,” I said.
“Next time, tell everyone to stand right next to Winston. Tell them to look Bobbette right in the eyes.”
“That sounds scary!” I said.
“It won’t be,” said my mom, “as long as you eat a Bully Bean before you do it!”
“Another way to take away Bobbette’s power is to stay away from her. Bobbette can’t bully you if she can’t communicate with you. If she tries to stare at you with her mean eyes, don’t look at her. If she tries to come close to your group, ignore her and walk away.”
“What if that doesn’t work?” I asked.
“Tell everyone in your group to turn and face Bobbette. Have them stand up straight and tall and look her right in the eyes. Use your loud voice and tell Bobbette to “Back off!” Say it so loud that the entire school can hear you!”
“That sounds scary!” I said.
“It won’t be,” said my mom, “as long as you eat a Bully Bean before you do it.”
“What if she tries to twist me into a human pretzel?” I asked.
“Bobbette may think that she can twist one of you into a pretzel, but she knows she can’t twist all of you.”
“Chances are if you are loud enough, one of the teachers on the playground will hear you and come to see if you need help.”
“Why don’t teachers stop kids who are bullying?” I asked.
“Teachers do stop them when they see it happen. The problem is that most bullies are very smart and they just don’t get caught.”
‘It’s always a good idea to tell a teacher or a counselor when you see bullying. If you are too scared to tell them in person, write them a note and don’t sign your name.”
Mrs. Skundrich, Tony hits Josh at lunch.
“Finally,” she said, “it is very important for you to remember that Bobbette may be a bully on the outside, but on the inside, she’s just a kid like you. If she ever decides to stop being a bully, give her a chance to become one of your real friends.”
I couldn’t believe the words I was hearing!
Me and Bobbette... real friends? NEVER!!
The next day, I went to school and passed out the Bully Beans to all of my friends and talked to them about everything my mom had told me.
We all agreed to give the bully beans a try.
Just before the bell rang that morning, Bobbette headed straight for Winston.
“Give me my homework, Squirt!” she demanded.
“No! no! no!”
Everyone chewed up a Bully Bean and swallowed it. Then we all crowded around Winston.
Winston closed his eyes and swallowed his bean. “No,” he squeaked back at her in a very high voice.
“What did you just say to me?” she asked him.
Winston looked up at Bobbette’s mean eyes and said, “NO! Do your own homework!”
Bobbette couldn’t believe her ears. Her mean eyes got bigger and meaner than I have ever seen them before.
She was just about to grab Winston by the collar, when our teacher came to the door and told us to come inside.
During class that morning, Bobbette tried glaring at Winston, but Winston wouldn’t look at her. He just sat in his seat smiling and eating Bully Beans. I bet he ate about 20 of them!
When recess finally came, everyone ate another Bully Bean and headed for the door. Winston was the first one outside. Bobbette tried to run right after Winston, but we got to him first and stood right next to him.
“Hey squirt,” she said.
“Get over here!!! NOW!”
Winston popped another Bully Bean into his mouth and chewed it up. We all walked away pretending not to hear Bobbette.
She chased him down, mean eyes and all.
“If you don’t stop right now, I’m going to twist you into a human pretzel,” she said.
We all stopped, turned around, stood up straight and tall, and stared right into Bobbette’s mean eyes.
“Back off Bobbette!” I said with a very loud voice.
“We are sick and tired of you telling us all where to go!”
“We are sick and tired of you telling us all what to do!”
“We are sick and tired of you telling us all what to say!”
“We are sick and tired of your mean eyes, and your human pretzel threats, and most of all... we are sick and tired of you!!!!!”
I couldn’t believe what I was saying! The words just poured out of my mouth!
Bobbette took a step toward me.
“Back off!” I screamed. “Leave us alone!”
Our recess teacher heard me scream and came running over to us.
“Is everything OK?” she asked.
I looked Bobette right in the eyes, but this time instead of having mean eyes, her eyes looked scared. Her face turned white. She was in shock!
“Everything is fine,” I said.
Bobette looked up to our teacher and nodded in agreement then she turned around and walked away.
When I got home, I told my mom what happened at school.
“Bully Beans really aren’t magic, are they?” I asked.
“Not exactly,” said my mom. “They’re just regular old jelly beans that taste good. Their only magic is that they helped you find the courage inside yourself to stand up to Bobbette.”
After that day, Bobbette stopped telling all of us what to do.
She stopped telling all of us where to go.
She stopped telling all of us what to say.
She stopped looking at us with her mean eyes.
And she hasn’t said another word since about twisting us into human pretzels.
Yesterday, Bobbette hung around our group for the very first time.
She was nice to everyone, even Winston.
I don’t think she will ever become one of my friends, but at least things are better than they used to be.
Winston told Bobbette all about the Bully Beans.
He even gave her a few of them so she could try them out on her big brother Larry.
She told him she’d need more... probably about 20!
Julia Cook
Bully B.E.A.N.S.
Chattanooga, National Center for Youth Issues, 2009
Fonte da imagem: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXHX5gdeK4G9P1Q1FT0EeQ0Dna_5j4ye6Iz4oFE0dkX-QL8j-soSmngmqYoJZztBJMbg5vBqW-jhPlofH9lemFBKtFWgqeAwxxPwhqaHGDqHBxz5-fgWnQhm94fRguUqmihiwpIWNRGYc/s1600/Bullying-circle.jpg
Peace
All it takes is…
One Hand
One Smile
A single Voice
To give a Wave
Say Hello
And spread a little Peace
At the Market
Down the Street
Or a sandy Beach
On a crowded Bus
During
Worship Prayer
Meditation
During Study
Play
Celebration
Joining Neighbours
Making Friends
From Home to Home and Shore to Shore
Share your Smile
Lend a Hand
Spread a little Peace
Barbara Kerley
A little Peace
Washington,
National Geographic, 2007
THE LAZY WOOD GATHERER

Relax, be very still and listen – listen carefully to this tale about Gabriel, a boy who lived in a small cottage on a cliff overlooking the sea. One day he got into big trouble with his parents. Do you want to know what happened? Let’s see if we can find out!
Now ... one sunny day, Gabriel’s father, who was a fisherman, asked his son to gather firewood from the forest. They were going on a boat trip the next day to see the whales as a special treat, so they needed wood to light a fire and cook a hearty breakfast before setting off.
But that morning Gabriel was very tired. “It’s not fair!” he muttered, “I don’t want to gather wood. I just want to take it easy today.” Nevertheless, he set off along the path that led to the forest. On his way up the path, he came to a lone tree that had no leaves.
“It’s my lucky day!” he exclaimed. “This tree has no leaves and it looks perfect for firewood – dead and dry. I don’t need to go all the way to the forest, like father said. I can just rest here and then quickly snap off some branches before I go home.” So he sat at the foot of the tree and gazed at the sea spangling in the sunlight. Soon, he fell fast asleep.
Some time later, he awoke with a start – it was getting dark. “Oh no! How long have I been asleep?” he wondered. Jumping up, he climbed the tree and frantically began to break off branches.
But, despite appearances, this wood wasn’t dead at all – it was green inside and full of sap. And the branches took so much pulling and twisting that one even snapped back and hit him in the eye. Ouch! When he had finally broken off enough branches, he bundled them into his arms, ran back home and piled them outside the house before he went in to bed.
Early next morning, Gabriel’s mother rose to prepare breakfast. She picked up the wood to start a fire. But the flames just flickered and died.
When her husband came down, she still had no fire. “I’m sorry, breakfast’s not ready.” she said. “This wood is so green and damp that the fire won’t light.”
Just then Gabriel appeared. “Son, what’s wrong with your eye?” asked his concerned mother.
“And why is this firewood so wet?” growled his father.
The boy gulped and shuffled his feet. He felt ashamed that he had let them down by being so lazy the day before. Trying not to cry, he explained how he had fallen asleep under the tree and gathered the wrong wood, hurting his eye in the process.
‘‘I’m so sorry I didn’t go to the forest like you asked. I was feeling too tired, so I tried to take an easy way out,” he said.
“Well, by the time we gather dry wood to cook breakfast,” replied his father, “it’ll be much too late to go and see the whales – it’s too far.”
Gabriel was disappointed, but determined to make amends. Later that day he went to the forest to collect lots of good firewood, so the next morning his mother was able to cook them all a filling breakfast. And as a reward for his hard work, they went to see the whales after all - a magical experience that Gabriel never forgot.
People who are lazy disappoint themselves as well as others. A wise person works hard so that they can enjoy the rewards and have the satisfaction of knowing they did their best.
Dharmachari Nagaraja
Buddha at bedtime
London, Duncan Baird Publishers, 2010
THE FLOWER EXHIBITION

Nearby, there was a flower exhibition. Natural flowers, I must say. Nor would it make any sense, if it was an exhibition of plastic flowers. Or of cloth flowers. Or of paper flowers. Or of flowers on paintings.
When they are in a garden, flowers are always in exhibition.
“Behold our colours,” say the roses.
“Appreciate the vigour of our stem and the elegance of our corolla,” say the arum lilies, which are called “glasses of milk” by the Brazilians. I wonder why!
“Ravish with the delicate painting of our petals,” say the pansies.
The garden flowers are really vain. In the exhibition, displayed in jars or in vases, delight whoever passed by them.
At the entrance, but outside the flower festival, a poppy drew my attention.
“They won’t let me in,” she complained. “They say that the exhibition is only for cultivated flowers. I think that’s very unfair.”
I was of the same opinion. So, to make justice and to pay homage to the country flowers, who are as humble as beautiful, I took the poppy and put it on my lapel. Then, I went to see the exhibition as if I was carrying on my chest a medal able to make the envy of generals.
A scandal arose among the flowers of the contest.
“Why does this simpleton from the countryside have to be here exhibiting herself?” they asked one another.
But the visitors of the exhibition looked at us – at the poppy and at me – and smiled.
My poppy, with a red face, felt the queen of the party. Never had she drawn so many glares, so much attention, so much kindness. It was too much emotion for such a fragile poppy. Before I got to the end of the exhibition, the petals of my poppy had flown away. Where to? It doesn’t matter.
That had been the most glorious moment of her short life.
A. Torrado
TWO GOATS ON THE BRIDGE
(A tale from Russia)
Between two mountains lay a narrow bridge. On each mountain lived a goat. Some days the goat from the western mountain would cross the bridge to graze on the eastern mountain. Some days the goat from the eastern mountain would cross the bridge to graze on the western mountain. But one day both goats began to cross the bridge at the same time.
Those goats met in the middle of the bridge.
Neither wanted to give way.
"Move off" shouted the Western Goat. "I am crossing this bridge."
"Move yourself" bawled the Eastern Goat. "I am crossing here".
As neither would retreat and neither could move forward, they stood in anger for some time.
Then at last they locked horns and began to push. They were so evenly matched in strength that they succeeded only in pushing each other off the bridge. Wet and furious they climbed from the river and stomped off to their homes. Each could be heard to mutter:
"See what his stubbornness caused.”
MILLERS AND COALMEM

In the time the windmills sails whirled, a miller, all dusty from hoisting flour bags, came across, on the road, a coalman all dusty from hoisting coal bags.
We forgot to tell you that, together with the miller was the miller's son, and together with the coalman was the coalman's son.
Also in that time, the millers' sons had no other destiny but to become millers, and the coalmen's sons could have no other ambition but to become coalmen.
- Look father, mark well those two, they're dusty all over! - The miller's son told the miller.
The coalman's son heard this remark and didn't like it. And neither did his father.
- Dusty! Huh! - The coalman's boy cried out.
Coalmen and millers stopped on the road, looking in each other's face, rather coarsely. Who's dusty, who's not dusty, the truth is that after some exasperating rude words, the two boys scuffled. And their parents after them.
Hands that menace, punches that cross, kicks, and the once white ended up stained in black and the once black ended up stained in white. And the dust of the road, mixed with a grey cloud, (grey because of the coal and the flour) surrounded the fighters.
People from neighbouring fields ran to set them apart.
But it was not without pain that they did it, and they all got hurt, the ones who asked for peace and the ones who made the war.
That's when an old man of honourable beards, who had run to the dispute, talked thus:
-The sons are as silly as their parents. Look at yourselves now, look closely at your clothes and tell me: Aren't you more dirty than before?
In fact, nobody could tell the millers from the coalmen any longer.
- If they had been hugging, instead of fighting, the outcome would have been the same - proceeded the old man. - And, honestly, why shouldn't they hug, these decent workers who are proud of the work they have chosen and of the clothes they are wearing? Come on, hug boys!
- Eh, am I dirty! - Laughed the son of the coalman.
- Not more than I am - laughed the son of the miller.
The sons laughed. The parents laughed. Everybody laughed pleasantly and the story ends here. And it ends well.
Source URL: http://www.historiadodia.pt/uk/historias/01/01/historia.aspx
A LOST STORY

I was about to tell a story, but I forgot about it on my way home or at some other place.
At the desk, where I usually write the stories, which wander about, I called for my story and I got no reply.
Where could I have lost it? Along the walkway? No, this story wasn't walking. In the dinning-room? No, it wasn't an edible story. In the bedroom? No, it wasn't a bedtime story.
Maybe it was in the street, before entering. It lingered at the door somewhat shy. Now, it must be here, drifting, with nobody to give it a hand, in the open air, my poor lost story!
It really touches me.
Tomorrow, I'm going to advertise in a newspaper:
STORY LOST. A REWARD FOR WHOEVER BRINGS IT TO THE FOLLOWING ADDRESS…
But, how can people find my story, when there are so many stories drifting around, abandoned, waiting only for somebody to tell them? My house will be full of stories, which don't belong to me. It's embarrassing. I only need one. Mine. How can I solve this dilema?
Well… I could come up with an idea… I could, for example, imagine that my story, after having drifted around, would end up in a garden where a lady with white hair, is sitting on a bench. She is very thoughtful and worried… She's going to visit her granddaughters and has nothing to take them. Not a toy car, not a ball, not a doll… And they, of course, will be waiting for some gift. But alas, she can't afford one!
My story reads her thoughts. It is always very shy, so within itself, but it dared. It gave itself to her:
"Take me to your grandchildren. Tell me. I can be a gift, too."
And so it happened. It seemed her grandchildren liked it.
After all, my story found a home!
António Torrado
A Monk With Heavy Thoughts
A Zen story from Japan
As two Zen monks walked along a muddy, rain-drenched road, they came upon a lovely woman attempting to cross a large mud puddle. The elder monk stopped beside the woman, lifted her in his arras, and carried her across the puddle. He set her gently down on the dry ridge of the road as the younger monk discreetly admired her charms.
After bowing politely to the woman, the two monks continued down the muddy road. The younger monk was sullen and silent as they walked along. They traveled over the hills, down around the valleys, through a town, and under forest trees. At last, after many hours had passed, the younger monk scolded the elder, “You are aware that we monks do not touch women! Why did you carry that girl?”
The elder monk slowly turned and smiled. He said, “My dear young brother, you have such heavy thoughts! I left the woman alongside the road hours ago. Why are you still carrying her?”
Heather Forest
Wisdom Tales from around the World
Simple Wooden Boxes

It is the heart that makes a man rich.
He is rich according to what he is, not according to what he has.
Henry Ward Beecher
I suppose everyone has a particular childhood Christmas that stands out more than any other. For me, it was the year that the Burlington factory in Scottsboro closed down. I was only a small child. I could not name for you the precise year; it is an insignificant blur in my mind, but the events of that Christmas will live forever in my heart.
My father, who had been employed at Burlington, never let on to us that we were having financial difficulties. After all, children live in a naive world in which money and jobs are nothing more than jabberwocky; and for us, the excitement of Christmas could never be squelched. We knew only that our daddy, who usually worked long, difficult hours, was now home more than we had ever remembered; each day seemed to be a holiday.
Mama, a homemaker, now sought work in the local textile mills but jobs were scarce. Time after time, she was told no openings were available before Christmas, and it was on the way home from one such distressing interview that she wrecked our only car. Daddy’s meager unemployment check would now be our family’s only source of income. For my parents, the Christmas season brought mounds of worries, crowds of sighs and tears, and cascades of prayers.
I can only imagine what transpired between my parents during that time. I don’t know for sure how they managed, but somehow they did. They made sure they scraped together enough money to buy each of us a Barbie doll. For the rest of our presents, they would rely on their talents, using scraps of materials they already had.
While dark, calloused hands sawed, hammered and painted, nimble fingers fed dress after dress after dress into the sewing machine. Barbie-sized bridal gowns, evening gowns… miniature clothes for every imaginable occasion pushed forward from the rattling old machine. Where we were while all of this was taking place, I have no idea. But somehow my parents found time to pour themselves into our gifts, and the excitement of Christmas was once again born for the entire family.
That Christmas Eve, the sun was just setting over the distant horizon when I heard the roar of an unexpected motor in the driveway. Looking outside, I could hardly believe my eyes. Aunt Charlene and Uncle Buck, Mama’s sister and her husband, had driven all the way from Georgia to surprise us. Packed tightly in their car, as though no air was needed, sat my three cousins, my Aunt Dean, who refused to be called “Aunt,” and both my grandparents. I also couldn’t help but notice innumerable gifts for all of us, all neatly packaged and tied with beautiful bows. They had known that it would be a difficult Christmas, and they had come to help.
The next morning we awoke to more gifts than I ever could have imagined. And, though I don’t have one specific memory of what any of the toys were, I know that there were mountains of them.
And it was there, amidst all that jubilation, that Daddy decided not to give us his gifts. With all the toys we had gotten, there was no reason to give us the dollhouses that he had made. They were rustic and simple red boxes, after all.
Certainly not as good as the store-bought gifts that Mama’s family had brought. The music of laughter filled the morning, and we never suspected that, hidden somewhere, we each had another gift.
When Mama asked Daddy about the gifts, he confided his feelings, but she insisted he give us our gifts. And so, late that afternoon, after all of the guests had gone, Daddy reluctantly brought his gifts of love to the living room.
Wooden boxes. Wooden boxes painted red, with hinged lids, so that each side could be opened and used as a house. On either side was a compartment just big enough to store a Barbie doll, and all the way across, a rack on which to hang our Barbie clothes. On the outside was a handle, so that when it was closed, held by a magnet that looked remarkably like an equal sign, the house could be carried suitcase style. And, though I don’t really remember any of the other gifts I got that day, those boxes are indelibly etched into my mind. I remember the texture of the wood, the exact shade of red paint, the way the pull of the magnet felt when I closed the lid, the time-darkened handles and hinges. I remember how the clothes hung delicately on the hangers inside, and how I had to be careful not to pull Barbie’s hair when I closed the lid. I remember everything that is possibly rememberable, because we kept and cherished those boxes long after our Barbie doll days were over.
I have lived and loved twenty-nine Christmases, each new and fresh with an air of excitement all its own. Each filled with love and hope. Each bringing gifts, cherished and longed for. But few of those gifts compare with those simple wooden boxes. So it is no wonder that I get teary-eyed when I think of my father, standing there on that cold Christmas morning, wondering if his gift was good enough.
Love, Daddy, is always good enough.
Martha Pendergrass Templeton
Jack Canfield & Mark Victor Hansen
Chicken Soup for the Soul – Christmas treasury
Florida, Chicken Soup for the Soul Publishing, 2001
EM ESPANHOL



Mi mayor sueño era descubrir qué había más allá del horizonte.
Todos me decían:
—No hay nada más allá del mar. Sólo una inmensa negrura.
Al oír esto, mi imaginación se desbordaba. Mis mayores me hablaban de seres extraños y monstruosos… que durante la noche poblaban mis pesadillas.
Solamente el hombre del faro me hablaba de un mar distinto.
Me descubría paraísos desconocidos al otro lado del océano.
Yo me pasaba las tardes en la playa, con la vista fija en aquella línea recta.
El viento soplaba sin cesar, desgastando el pueblo, haciéndolo cada vez más pequeño.
Y los monstruos eran cada vez más grandes.
Un día me enfrenté al viento, a los monstruos, a la negrura… y salí al mar.

De modo que a Luna se le ocurrió una idea y le contestó:
—Debes lucir aún más hermosa cuando seas mi mujer —dijo Sol—. Puedo traerte lo que quieras. Por favor dime qué te gustaría, mi amor.
—¿Crees que estoy tan redonda como una tortilla? —gimió. Y al escaparse, su aliento heló la cara ardiente de Sol. —¿Cómo pudiste pensar que esta falda me iba a quedar bien?
Por esta razón, Sol nunca pudo casarse con Luna. Ahora, todos los días, justo antes de irse a dormir al cielo del oeste, Sol observa a Luna, que a veces está delgada, a veces redonda, con frecuencia a medio camino, pero siempre brillando con su centelleante luz plateada. Y lo único que le queda es contemplarla del otro lado del cielo cuando cae la noche.
Y cada noche, antes de acostarse, el Sol suspira larga y tristemente por su amor rechazado. Y cada Noche, mientras atraviesa el cielo, Luna ríe de placer y de alivio.


CORRE, CORRE

UN REY MAGO MUY ESPECIAL




Como cada noche, Mamá dice a Roberto:
«¿Vienes? Es hora de acostarse.»
«¿Ya?»
Roberto se resiste en la escalera.
«No es divertido ahí arriba. Está oscuro y hay monstruos escondidos.»
«No hay ningún monstruo», dice Mamá. «Y te dejaré una luz encendida en el pasillo.»
«No sirve de nada, vendrán igualmente.»
«Dejo la puerta entornada», dice Mamá. «Buenas noches, cariño.»
¡Crac!
«¿De dónde viene ese ruido? Seguramente es el armario.»
Agarrado al cubrecama, Roberto mira el armario. Sigue mirándolo.
Parece que se ha movido.
Sí, sí, se transforma.
Tiene grandes patas como garras.
Mira la cortina. ¡Oh, no! También se mueve. Hay alguna cosa detrás.
Parecen serpientes.
Lentamente Roberto vuelve la cabeza hacia la silla.
Se está transformando.
«¿Tedy, estás aquí??», pregunta Roberto con un hilo de voz.
Pero Tedy no está en la cama.| Está aquí, en el banco. No ha visto nada.
«No te muevas, Tedy. Voy a buscarte.»| Roberto se arma de valor.
¡Mientras la silla y el armario no se acerquen! ¡Y mientras no ponga el pie sobre una serpiente! Esta balsa seguro que está llena.
«¡Valor, Tedy, casi estamos!»
De un salto, Roberto vuelve a su cama y levanta el cubrecama.
«¡Ven! ¡Escondámonos rápido!»
«¿Escondernos? ¿Pero por qué?» pregunta Tedy.
«¡Por los monstruos!», exclama Roberto.
Tedy se acerca al oído de Roberto: «¿Quieres que te cuente un secreto?… Escucha. Me tomas en brazos, hundes la nariz en mi barriga, cierras los ojos y cuentas hasta nueve.
¡Y Pufff! Ya no hay monstruos. Habrán desaparecido.»
Roberto se acuesta y se acurruca contra Tedy, cerrando los ojos. Empieza a contar lentamente… seis… siete… ocho… nueve…
Entreabre un ojo, y…
«Bien, esto funciona», le susurra a Tedy al oído.
«Evidentemente. Siempre funciona. ¡Anda! Ahora dormimos.»

EL PAÍS DEL GRIS

El PRÍNCIPE QUE PERDIÓ LA MEMORIA

PARA MÍ NO HAY EXTRAÑOS


Para nuestros amigos afganos,
Ziba vino en un barco. Un viejo y abarrotado barco pesquero que crujía y gemía mientras se levaba y caía, se elevaba y caía, surcando un mar sin fin…
ADELAIDA VA A LA ÓPERA

La señora Adelaida Caracol se prepara para una gran velada.
Hoy vuelve a actuar en la opereta de los caracoles, donde interpreta el papel principal.
Se estira delante del espejo y ensaya su papel. No hace falta que cante, sólo que lo finja, ya que los caracoles no oyen. Se pasa todo el mediodía delante del espejo para acabar de perfeccionar su papel.
Mientras tanto, Alfredo Caracol, su marido, se baña en la bañera nueva que, repentinamente, cayó del cielo hace unos días. Aunque está agrietada, cayó de tal manera que el agua de la lluvia no se derrama.
El tiempo pasa volando. Adelaida le da un empujón a Alfredo para que se dé prisa y se ocupe de Roberto.
Roberto es el pequeño de la familia y el caracol más lento de los alrededores. Está pegado en el techo del salón, al lado de la lámpara. Ése es su sitio preferido: desde allí arriba puede verlo casi todo de un vistazo.
Roberto baja de allí arrastrándose de mala gana y empuja enfurruñado su fresa de juguete. Preferiría quedarse en casa y jugar con el hijo de los vecinos. No le interesa nada el teatro, le parece aburrido.
Pero para la señora Caracol es muy importante. Le da un empujón a Roberto para que le eche una mano con el vestido de gala.
Se pone sobre los cuernos el sombrero que Roberto le ha traído del armario, pero está nerviosa y hoy no se gusta en absoluto.
Roberto le lleva un sombrero tras otro hasta que se queda sin aliento.
Ahora la señora Caracol quiere el sombrero con el ala de col, el que está al fondo del armario. Roberto está harto de rebuscar y sin que la madre caracol se dé cuenta, le da el primero que encuentra, el de berro de los prados.
Finalmente, ella se decide por ése.
“¡Ya era hora!”, piensa Roberto, y esconde los cuernos, disgustado.
Ahora la familia Caracol se mueve muy alborotada de un lado a otro de la casa. La señora Caracol porque tiene miedo de subir a escena. El señor Caracol porque todavía no están listos. Roberto es el único que no tiene tan claro por qué está nervioso. Probablemente, porque es muy lento y ahora tiene que darse prisa.
El despertador marca ya las cinco, y a las ocho se levanta el telón.
El señor Alfredo Caracol se enfada porque nadie ha inventado todavía relojes para caracoles, relojes que hagan tic-tac más lentamente. Resulta que el señor Caracol es el director de una gran fábrica de sopas, y todos sus trabajadores llegan tarde al trabajo cada mañana.
La señora Caracol se pone su chal de gala, y cuando se planta delante del espejo, se lleva un susto tan grande que hace temblar a toda la villa de los caracoles: ¡el chal se ha marchitado y las orugas se han comido los bordes!
Es el que llevó en su boda, y está ya muy reseco, pero no se puede desprender de él, por lo que lo vuelve a dejar en el armario.
El señor Caracol está muy pálido a causa del ajetreo. Él ya está listo: se ha pagado la pajarita y se ha puesto su imponente sombrero de copa sobre los cuernos.
Mientras Adelaida se empolva con polen y se cocía con perfume de lechuga, el señor Caracol se da cuenta de que Roberto ha desaparecido.
“Dónde se habrá metido este mocoso otra vez”, se pregunta mientras sigue el rastro de baba que ha dejado su hijo. Se arrastra por el camino del jardín hasta la puerta de la casa y, entonces, se detiene.
El rastro de baba sube por una de las ruedas de un coche, donde Roberto está pegado en medio del tapacubos.
La señora Caracol aparece por el camino del jardín y está guapísima.
En lugar de la hoja de lechuga marchita, se ha pegado un poco de nomeolvides en el escote.
El señor caracol se pone muy rojo a causa del perfume de lechuga, y Roberto empieza a toser.
La señora y el señor Caracol suben a la rueda del coche, se colocan junto a Roberto y le felicitan por la buena idea de ir al teatro de los caracoles de una manera tan rápida y cómoda. Pero viajar en el tapacubos es bastante arriesgado.
De repente, el motor traquetea y ruge con un ruido ensordecedor y empieza el viaje.
Ante los ojos de la familia Caracol, todo empieza a dar vueltas, y se esconden dentro de sus conchas. Se pegan al tapacubos con todas sus fuerzas para evitar salir disparados y acabar rodando por la carretera.
Si no se marease tanto, a Roberto todo esto le parecería muy divertido. La señora Caracol está a punto de desmayarse.
Cuando el coche, por fin, se detiene, todos se ponen muy contentos y se alejan de la rueda tan rápido como pueden.
El señor Caracol se seca el sudor de la frente, y la señora caracol se recoloca el sombrero.
Roberto ha perdido su pajarita, pero con el ajetreo nadie se da cuenta. Entonces empieza a refunfuñar y a mover los cuernos como un loco.
“No hacía falta que nos diésemos tanta prisa —dice—, hemos llegado demasiado pronto. ¿Qué hacemos ahora tanto rato?”.
La señora Caracol le tranquiliza, y recorren al último tramo del camino hasta el teatro tan despacio como pueden.
Allí todos esperan a la señora Caracol.
A pesar de los nervios, su actuación es magnífica. Todos la aplauden como diva de la ópera. Cientos de flores caen sobre el escenario, el público está entusiasmado.
El señor Caracol está muy orgulloso — Roberto hace rato que se ha metido dentro de la concha y … duerme.
Tatjana Hauptmann (2010).
Adelaida va a la ópera.
Barcelona: Flamboyant.
LA LEYENDA DE ICHILOK, EL CUARTO REY MAGO
 |
| Ilustração de Luusan |
Érase una vez una historia que se hizo célebre. Es la historia de un niño llamado Jesús que nació en un establo en Belén. Se cuenta que, en el momento de su nacimiento, una estrella se iluminó en el cielo y que tres reyes –Melchor, Gaspar y Baltasar– vieron esa señal.
Los Reyes Magos se pusieron en marcha, guiados por la Estrella, y llegaron, montados en camellos, con las manos llenas de los regalos más preciosos para el Niño Jesús. Pero se cuenta también que lejos, muy lejos de Belén, vivía un cuarto Rey Mago.
Se llamaba Ichilok y tenía la piel roja, pues era un viejo indio de América.
Aunque su país sea todavía desconocido al otro lado de la Tierra, Ichilok también leía en el cielo, también él vio la Estrella, también él supo que tenía que seguirla.
Así pues, hizo el equipaje y se llevó todo lo que encontró de más valor para regalar: escogió unas plumas con reflejos de arco iris, dos magníficos cristales verdes llamados esmeraldas, dos grandes pepitas de oro, preciosas, un cuenco de agua de manantial de una pureza extraordinaria, un espejo de plata... A estos tesoros, añadió, porque la encontraba muy bella, una sencilla rama adornada con una asombrosa pina de color dorado.
—¡Qué extraños regalos vas a ofrecer! —le dijo su amigo Patchlok, prendido—. ¿Acaso no mezclas objetos preciosos y objetos muy sencillos?
—Amigo —respondió Ichilok—, nuestros antepasados nos enseñaron que las cosas más simples son a veces las más preciosas. ¿Lo habías olvidado? Y ahora, debo irme. Hasta pronto.
—¡Ichilok, ese viaje va a ser largo y difícil! —le dijo Patchlok en voz alta—. Deja que te acompañe.
Pero Ichilok fue inflexible: pensaba ir solo, y dejarse guiar por la Estrella. El anciano se puso en marcha hacia Oriente.
Se fue contento, con paso ligero, llena de canciones la cabeza; y empezó a descender la montaña. Con la alegría, no distinguió al puma que le seguía discretamente. Ágil y silencioso, el animal espiaba el menor de sus gestos. Cuando Ichilok se hubo alejado de las últimas casas, el puma se abalanzó sobre él y le clavó las garras.
En estado de choc, el hombre lanzó un grito y cayó al suelo. El felino rugió:
—No te muevas, hombre, o te mato inmediatamente. Estás muy delgado, pero mis hijos tienen hambre y mi compañera no puede alimentarlos...
—¿Por qué no puede alimentarlos tu compañera? —preguntó tranquilamente Ichilok desempolvándose el abrigo.
—¡Ay! —respondió con tristeza el puma—, ya no puede cazar porque no ve. Unos cazadores intentaron matarla y la hirieron en los ojos. Ocurrió hace tres días. Por esto no tengo alternativa, vas a servir de comida a nuestros hijos.
—¡Eh, no tan rápido! —protestó Ichilok—. Yo no he hecho nada. Y, además, cuando me hayáis comido, ¿qué os va a quedar? ¿Cómo vas a alimentar a tus pequeños? El puma no supo qué responder.
Ichilok se levantó majestuosamente: —
Yo soy un Rey Mago —dijo con soberbia—. Y quien dice mago, dice algo mágico. Llévame inmediatamente a donde está tu compañera y veré qué puedo hacer.
El felino condujo a Ichilok hasta su guarida. Allí, los tres cachorros jugaban alrededor de su madre. Ichilok se inclinó sobre ella y delicadamente examinó sus ojos inyectados de sangre. La compañera del puma permitió que la observara.
—Creo que tengo lo que necesitas para curarte —dijo Ichilok suspirando, mientras se enderezaba—, pero en el tiempo que tarde en curarte, el niño que voy a ver ya habrá crecido.
El hombre reflexionó un momento y añadió:
—Aunque no pienso dejarte así. Hurgó en su bolsa, suspiró de nuevo, y cogió las dos esmeraldas que pensaba regalar al niño. —Soy mago, confía en mí —dijo al puma.
Y, como por arte de magia, sustituyó los dos ojos heridos por las dos piedras preciosas. —Soy mago, ¡mírame! La compañera del puma lo miró con sus dos pupilas sorprendentemente verdes: volvía a ver perfectamente.
El mago le había ofrecido el más precioso de los regalos. Satisfecho, Ichilok emprendió de nuevo la marcha hacia Oriente. Le quedaban todavía las plumas con reflejos de arco iris, dos bellas y grandes pepitas de oro, un cuenco de agua de fuente de una pureza extraordinaria, un espejo de plata... y, porque la consideraba bonita, una sencilla rama adornada con una sorprendente pina dorada. Su trayecto le condujo a través de la selva virgen.
El anciano cantaba en honor del niño que iba a visitar, y no se dio cuenta de que un loro le seguía con un aire triste. Al caer la noche, Ichilok se detuvo para encender una hoguera. El loro se colgó de una rama y también él se puso a cantar la canción del indio.
—Cantas bien, pero ¿por qué estás tan triste? —le preguntó el mago levantando la cabeza. —Mírame, ¿no ves que soy feo y desplumado? ¿Cómo puedo atreverme a presentarme ante los demás, yo que antes era tan bello?
—¿Qué te ha ocurrido? —le preguntó Ichilok. —Yo era bello y estaba tan orgulloso de mi plumaje multicolor que fui a cantar cerca del pueblo. Allí, los niños me cazaron y me arrancaron las plumas. Finalmente, conseguí escapar, pero mírame ahora, estoy prácticamente desnudo.
—Creo que tengo lo que necesitas —dijo Ichilok suspirando—, pero en el tiempo que tarde en curarte, el niño que debo ir a ver ya habrá crecido. El hombre reflexionó un momento, y luego añadió:
—De todas formas, no voy a dejarte así. Buscó en su saco, suspiró una vez más, y cogió las plumas con reflejos de arco iris que pensaba regalar al niño.
—Soy mago, confía en mí —dijo al loro. Y, como por arte de magia, sustituyó las que le faltaban por las magníficas plumas que había sacado de su saco.
—Soy mago, ¡vuela! El loro revoleteó alrededor de Ichilok cantando alegremente, y dio las gracias al indio por el maravilloso regalo que acababa de hacerle. Satisfecho, Ichilok reemprendió su ruta hacia Oriente. Todavía le quedaban para regalar dos bellas y grandes pepitas de oro, un cuenco de agua de fuente de una pureza extraordinaria, un espejo de plata... y, ya que la encontraba bonita, una sencilla rama con una extraña pina de color dorado. El anciano llegó a orillas del mar. Allí, se encontró con un marino que aceptó llevarle lejos, hacia Oriente, donde encontraría al niño al que quería dar sus regalos. Ichilok subió al barco sin fijarse en un hombre que se había deslizado furtivamente bajo su cama.
Unas horas más tarde, Ichilok oyó unos gemidos y descubrió a un hombre que temblaba de miedo.
—¿Quién eres y qué haces aquí? —preguntó con calma el mago.
—Me escondo, porque si me encuentran ¡me matarán! No diga que estoy aquí, por favor —le suplicó el hombre antes de desvanecerse. Ichilok movió la cabeza.
—Sin duda, el pobre no debe de haber bebido nada desde que partió. Creo que tengo lo que necesita —suspiró, pero en el tiempo que tarde en curarle, el niño que debo ir a ver ya habrá crecido.
Ichilok reflexionó un momento y añadió:
—¡Vamos! No voy a dejarlo así. Hurgó en su bolsa, suspiró una vez más y sacó el cuenco de agua de manantial de una pureza extraordinaria que pretendía regalar al niño.
—Soy mago, confía en mí —dijo al hombre, ayudándole a beber. Y algunas gotas del agua maravillosa fluyeron hasta su garganta.
—Soy mago, ¡despierta! Y, como por arte de magia, el hombre recobró el sentido y dio las gracias a Ichilok por su gran generosidad.
Cuando atracaron, Ichilok, satisfecho, siguió su ruta hacia Oriente. Le quedaban todavía para regalar dos bellas y grandes pepitas de oro, un espejo de plata... y, porque la encontraba muy bonita, una simple rama adornada con una extraña pina dorada. Ichilok atravesó ciudades, pueblos, desiertos, montañas. En un pueblo, vio a una anciana que lloraba en el umbral de su puerta.
—¿Qué te ocurre, mujer, por qué lloras así?
—¡Ay! —exclamó ella—. Soy tan vieja que no me atrevo a mirarme al espejo de lo fea que soy.
—Tu espíritu es tranquilo y honesto; eres buena y generosa. Ahí reside la verdadera belleza —le dijo Ichilok para tranquilizarla.
—¿Por qué estás seguro de lo que dices? Esta belleza no se ve —respondió la anciana.
Ichilok sonrió.
—Creo que tengo lo que necesitas —dijo suspirando—, pero en el tiempo que tarde en ocuparme de ti, el niño que tengo que ir a ver ya habrá crecido.
El hombre reflexionó un momento, y añadió:
—Pero no voy a dejarte así. Buscó en su saco, suspiró una vez más y extrajo el espejo de plata que pensaba regalar al niño.
—Soy mago, ten confianza en mí —dijo a la mujer. Y le dio el espejo de plata. —¡Mira la belleza de tu corazón! La mujer cogió el espejo y, como por arte de magia, se vio hermosa. Dio las gracias a Ichilok con expresividad.
En aquel mismo instante, se oyeron unos gritos. Eran de una niña que era arrastrada por dos hombres y que se resistía.
—¡Soltadme! ¡Soltadme! —suplicaba.
—¿Qué ha hecho? —preguntó Ichilok a los dos hombres.
—La bribona nos ha robado pan, ¡he aquí lo que ha hecho! —gritó uno de ellos—. ¡Prisión para la ladrona! Ichilok sonrió pacientemente.
—No hay duda de que la pobre pequeña tenía hambre. Creo que tengo lo que necesita —suspiró—, pero en el tiempo que tarde en ocuparme de ella, el niño que voy a ver ya habrá crecido.
El anciano indio reflexionó un momento y añadió:
—Pero no voy a dejarla así. Hurgó en su saco, suspiró una vez más, y sacó de él las dos bellas y grandes pepitas de oro que pensaba regalar al niño. —Soy mago, con esto os devuelvo lo que esta pequeña os ha quitado para comer —dijo a los hombres, que se marcharon satisfechos de haber sido recompensados con creces por su pan.
Y la pequeña quedó en libertad. Ichilok le dijo:
—Soy mago. Llévame al establo donde el niño espera mis regalos. Ay, no me queda más que una sencilla rama adornada con una extraña pina de color dorado. Pero al menos voy a ofrecerle este regalo. Y contó su viaje a la anciana y a la pequeña.
—Conozco al niño al que te refieres —le dijo la mujer—. Este niño ha crecido, su familia y él se fueron hace ya unos años. Has hecho un largo viaje, tu barba es ahora larga y blanca. Pero no has recorrido el camino en vano: ¡Fíjate en la cantidad de regalos maravillosos que has ofrecido, fíjate en lo felices que les has hecho! Sigue, Ichilok, sigue. Ve a dar lo que tienes a los que lo necesitan. Y quien sabe si dando regalos a todos los niños de la Tierra, un día encontrarás al niño que estás buscando...
Enriquecido con la sabiduría de la mujer, Ichilok regresó a su país. Allí vio que la gente pasaba hambre. Suspiró y sonriendo, dijo:
—Creo que tengo lo que necesitan. ¡No puedo dejarlos así! Buscó en su saco, suspiró una vez más, y extrajo una rama adornada con una extraña pina de color dorado que pensaba regalar al niño.
—Soy mago; he aquí con qué alimentar a los que tienen hambre. Plantó la extraña pina dorada con una forma absolutamente perfecta, y desde entonces, cada año, crece maíz y da a los hombres sus espigas doradas y les protege del hambre.
Pero el viejo indio de la barba blanca no se detuvo ahí... Cada año, en Navidad, cuando todos celebran el nacimiento del Niño Jesús y el viaje de los Reyes Magos, Ichilok, el cuarto Rey Mago, sigue discretamente dando regalos a quienes los necesitan.
Navidad: cuentos, poemas y canciones
Barcelona: El Aleph, 2008
CACHORROS PARA LA VENTA
l dueño de una tienda estaba clavando un letrero sobre la puerta que decía «Cachorros para la venta». Letreros como ese atraen a los niños, y tan es así que un niñito apareció bajo el letrero.
—¿Cuánto cuestan los cachorros? —preguntó.
—Entre treinta y cincuenta dólares —replicó el dueño.
El niño buscó en sus bolsillos y sacó unas monedas.
—Tengo $2.37 —dijo—. ¿Puedo verlos, por favor?
El dueño sonrió y dio un silbido, y de la perrera salió Lady, quien corrió por el pasillo de la tienda seguida de cinco diminutas bolas plateadas de pelaje. Uno de los cachorros se retrasaba considerablemente detrás de los demás.
—¿Qué pasa con ese perrito? —dijo el niño señalando al cachorro que cojeaba rezagado.
El dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado, y había descubierto que no tenía la cavidad del hueso de la cadera. Siempre sería cojo. El niño se emocionó.
—Ese es el cachorro que quiero comprar.
—No tienes que comprar ese perrito —le dijo el dueño de la tienda—. Si realmente lo quieres te lo daré.
El niño se molestó un poco. Miró directamente a los ojos del dueño de la tienda, y señalándolo con el dedo dijo:
—No quiero que me lo regale. Ese perrito vale tanto como los demás, y pagaré todo su valor. En efecto, le daré $2.37 ahora, y cincuenta centavos mensuales hasta que lo haya pagado completamente.
—No creo que quieras comprar ese perrito —replicó el dueño—. Nunca va a poder correr ni jugar ni saltar contigo como los demás cachorros.
En ese momento, el pequeño se agachó y arremangó su pantalón para mostrar una pierna malamente lisiada, retorcida y sujeta por una gran abrazadera de metal.
—¡Bien —replicó suavemente el niño mirando al dueño de la tienda— yo tampoco corro muy bien, y el cachorrito necesitará a alguien que lo entienda!
Dan Clark
Jack Canfieldy Mark V. Hansen (1995).
Sopa de pollo para el alma .
Deerfield beach: HCI.
YO VIVÍA EN EL FIN DEL MUNDO

Yo vivía en el fin del mundo.
En un lugar donde siempre sopla el viento.Mi mayor sueño era descubrir qué había más allá del horizonte.
Todos me decían:
—No hay nada más allá del mar. Sólo una inmensa negrura.
Al oír esto, mi imaginación se desbordaba. Mis mayores me hablaban de seres extraños y monstruosos… que durante la noche poblaban mis pesadillas.
Solamente el hombre del faro me hablaba de un mar distinto.
Me descubría paraísos desconocidos al otro lado del océano.
Yo me pasaba las tardes en la playa, con la vista fija en aquella línea recta.
El viento soplaba sin cesar, desgastando el pueblo, haciéndolo cada vez más pequeño.
Y los monstruos eran cada vez más grandes.
Un día me enfrenté al viento, a los monstruos, a la negrura… y salí al mar.
Ramón Trigo (2007).
Yo vivía en el fin del mundo.
Zaragoza: Edelvives
POR QUÉ LA LUNA ES LIBRE
¡Oh, cuánto Sol amaba a Luna! Ella era tan pálida y adorable. Sol se moría por hacerla su esposa.
—Eres más bella que las tenues nubes y más encantadora que la rosa más fresca. Te quiero sólo para mí —le dijo Sol.
Luna estaba acostumbrada a brillar en solitario por las noches y le gustaba que fuera así. Si se sentía sola, había millones de estrellas con quien hablar, los meteoros para jugar carreras con ellos y los planetas que la hacían reír.De modo que a Luna se le ocurrió una idea y le contestó:
—Me casaré contigo, Sol, con una condición. Debes regalarme un bello traje. Me encantan los huipiles bordados. Me gustan las blusas blancas ribeteadas con listones. Y adoro las faldas largas, que flotan en el viento nocturno. Puede ser cualquier cosa, ¡pero debe quedarme perfecta, debe ser exactamente de mi talla!
Aunque estaba cansado de calentar la tierra e iluminar el cielo todo el día, Sol se quedó despierto toda la noche observando a Luna, tratando de elegir el regalo. No se decidía.—Debes lucir aún más hermosa cuando seas mi mujer —dijo Sol—. Puedo traerte lo que quieras. Por favor dime qué te gustaría, mi amor.
Por fin decidió llevarle una falda tejida con hilo de oro y delicadas tiras de luz estelar.
—Ay, todas las estrellas envidiarán a mi nueva novia —pensó Sol.
Pero cuando Sol volvió a ver a Luna, se quedó sorprendido al descubrir que no era más que una forma muy fina, una sombra apenas de su antigua figura.
—¡Ay, mi amor! —gritó—, el amor te ha quitado el apetito. Te ves tan delgada.
Sol atravesó volando el firmamento y le pidió a su sastre personal que achicara la falda para que le quedara a la nueva Luna, larga y esbelta.
Cuando volvió, Luna, que ya había engordado un poco, no pudo deslizar la falda por sus caderas.
—¡Auch! —exclamó. Y se puso azul de tanto contener el aliento y tratar de meter su ser lunar en la estrecha falda.
—La talla es completamente incorrecta. Esta falda me está exprimiendo y dejándome sin luz.
—Ay, mi amor, lo que pasa es que ahora estás un poco más rellenita, pero esta falda te va a quedar de maravilla cuando regrese —dijo Sol.
Sol se apresuró a cruzar las montañas y le pidió al Relámpago que le añadiera a la falda unos tablones de su luz resplandeciente para que las caderas más amplias de Luna entraran sin Problemas.
Pero para entonces, la Luna ya estaba un día o dos más gorda. Contuvo la respiración y contrajo el vientre lo más que pudo.—¿Crees que estoy tan redonda como una tortilla? —gimió. Y al escaparse, su aliento heló la cara ardiente de Sol. —¿Cómo pudiste pensar que esta falda me iba a quedar bien?
Durante treinta días, todo un mes, Sol lo intentó una y otra vez, pero nunca pudo adivinar la talla exacta
de Luna. ¡Siempre cambiaba! La medía cuidadosamente para que la ropa le quedara perfecta. Pero trajera lo que le trajera —otra falda, un sombrero o un abrigo— estaba muy pequeño, apretado o suelto en el momento en que ella se lo probaba.Por esta razón, Sol nunca pudo casarse con Luna. Ahora, todos los días, justo antes de irse a dormir al cielo del oeste, Sol observa a Luna, que a veces está delgada, a veces redonda, con frecuencia a medio camino, pero siempre brillando con su centelleante luz plateada. Y lo único que le queda es contemplarla del otro lado del cielo cuando cae la noche.
Y cada noche, antes de acostarse, el Sol suspira larga y tristemente por su amor rechazado. Y cada Noche, mientras atraviesa el cielo, Luna ríe de placer y de alivio.
Mary-Joan Gerson
Fiesta femenina
Cambridge, Barefoot Books, 2003
UNA CIUDAD, DOS HERMANOS
Hace mucho, mucho tiempo,
el rey Salomón reinaba en la ciudad de Jerusalén. Durante su reinado, mandó construir
un magnífico templo para su pueblo, un edificio único, un lugar santo.
Todos los días, el
monarca, sentado en su palacio, recibía la visita de sus súbditos, a los que
ofrecía consejo si se lo pedían o
a los que juzgaban si habían infringido sus leyes.
Un día, se presentaron
ante el rey dos hermanos. Su padre había muerto hacía poco y discutían por quién debía
heredar sus tierras. Acudieron al rey para pedirle consejo.
—¡Según la ley, tendrían
que ser para mí! —dijo uno de los dos hermanos.
—¡Es justo que yo reciba
mi parte! —dijo gritando el otro.
El rey, que era sabio,
primero se limitó a escucharlos. Cada vez chillaban y se enfadaban más hasta que el rey levantó
la mano ordenando silencio.
—Os contaré una historia —les
dijo— que sucedió hace mucho tiempo, mucho antes de que aquí hubiera una ciudad,
mucho antes de que en esta tierra se hubiera levantado un templo.
La que sigue es la
historia que les contó el rey Salomón.
Hace muchos,
muchos años había un valle surcado por un río que se abría camino dando vueltas
y más vueltas por entre las montañas, al este, dirigiéndose después hacia el
mar, al oeste.
Bordeaban el
valle pronunciadas pendientes cubiertas de olivos y almendros. Cerca del fondo
del valle, donde el río trazaba un recodo siguiendo la falda de una rocosa
montaña, había dos pueblos, formados por un puñado de apiñadas cabañas de piedra,
tiendas negras y corrales para los animales.
Dos hermanos
cultivaban unos campos situados en el valle, a medio camino entre ambos
pueblos, cuyo suelo era rico y profundo, perfecto para la labranza.
El hermano
mayor vivía en un pueblo a uno de los lados del valle, un poco más arriba de
los campos que compartían. El más joven vivía en el otro pueblo, un poco más
abajo de la tierra que cultivaban. Un par de caminos conectaban los dos
pueblos: uno pasaba por encima de la montaña que los separaba, el otro atravesaba
el valle y pasaba junto a los campos.
Todos los
otoños, tras las primeras lluvias, los dos hermanos agarraban su burro y juntos
araban la tierra y hacían la siembra. Todos los inviernos, las semillas
germinaban e iban creciendo hasta la primavera. Entonces, la cabecita que
coronaba los tallos se hinchaba y maduraba hasta que a principios del verano
adquiría un color dorado. Era el momento en que los dos hermanos segaban el trigo
con sus hoces, lo trillaban y guardaban el grano en sacos. Una vez terminaban
todas estas labores, los hermanos contaban los sacos y los repartían a partes
iguales, la mitad para cada uno. Les tocaba la misma cantidad de paja para los
animales y de trigo para molerlo, convertirlo en harina y después hacer el pan
con él.
Luego llegaba
el otoño y, con él, el momento de empezar a labrar la tierra otra vez. Y así
iban pasando los años.
El hermano
mayor se casó y no tardó en tener la casa llena de niños que alimentar. Por
suerte, la parte de la cosecha que le tocaba le duraba siempre hasta el final
del invierno. Estaba contento. El hermano más joven nunca llegó a casarse.
Algunos decían que no había encontrado a la mujer que le convenía, otros que le
gustaba la vida tranquila. Fuera como fuese, también él estaba satisfecho com su
suerte.
Un verano, la
cosecha fue excelente, mejor que todas las demás. Los dos hermanos apilaron los
pesados sacos de grano: veinte para cada uno. Cuando el hermano mayor los tuvo
todos bien amontonados, pensó en su hermano pequeño.
—Qué suerte tengo
de tener una familia —se dijo—. Cuando sea viejo, me cuidarán. En cambio, mi
pobre hermano no tiene a nadie. Tendrá que ahorrar para cuando sea mayor. Él necesitará
este grano más que yo. Y decidió hacerle un regalo por sorpresa. Cuando se hizo
de noche, cargó tres sacos de grano
en su burro y
subió con él montaña arriba, por detrás de su casa, y después bajó por el otro
lado hasta llegar al pueblo de su hermano. Era una noche muy oscura, nublada,
sin luna ni estrellas que iluminaran el camino, pero él conocía tan bien el
trayecto que hubiera podido llegar con los ojos vendados. Sin hacer ningún
ruido, fue de puntillas hasta el cobertizo donde su hermano guardaba el grano y
dejó los tres sacos al lado de los que ya estaban apilados. Después regresó para
casa, sonriendo al pensar en la cara que pondría su hermano a la mañana
siguiente cuando lo viera.
AI día
siguiente, después de desayunar, su esposa le preguntó cómo había ido la
cosecha.
—Este año sólo
diecisiete sacos —le dijo—, pero si no los malgastamos, tendremos suficiente.
Su mujer lo
miró con sorpresa.
—¿Solo
diecisiete sacos? Si parecía una buena cosecha.
Su marido tan
sólo se encogió de hombros y sonrió. Mientras la familia acababa de desayunar, su
mujer fue adonde guardaban el grano sin que nadie la vera y volvió al cabo de
un momento.
—Marido mío,
¿estás tan cansado que no has sabido ni contar los sacos?
—¿Qué quieres
decir? —le preguntó él.
—He ido al
almacén y he contado veinte sacos, no diecisiete.
—¡No puede ser!
Pero cuando fue
él, se dio cuenta de que así era. ¡Había veinte sacos de grano!
—¿Cómo es
posible? —se preguntó—. Debo de haberlo soñado todo.
Aquella noche,
después de la puesta de sol, volvió a coger tres sacos y los llevó al cobertizo
de su hermano. Esta vez, para que el burro no se cansara, tomó el camino que
pasaba por el valle. A la mañana siguiente, después de desayunar, le contó a su
mujer que, al final, sólo tenían diecisiete sacos ya que había regalado tres.
Se puso un dedo en los labios:
—Es un secreto —dijo
susurrando.
Su mujer le
miró con suspicacia.
—¿Estás seguro?
—le preguntó.
—Pues claro que
lo estoy. Ven, te lo enseñaré.
Pero cuando
fueron a contarlos, vieron que volvía a haber veinte sacos.
A su mujer no
le hizo ninguna gracia.
—¿Por qué me
tomas el pelo de esta manera? —le preguntó—. Deberías decirme la verdad.
—¿Será acaso un
milagro? —se preguntó el hombre—, ¿o será que me hago viejo y ya no me acuerdo
de nada?
La tercera
noche, después de la puesta de sol, volvió a salir con tres sacos más, decidido
a hacerle el regalo a su hermano costara lo que costara.
Tres días
antes, el hermano más joven, justo cuando acababa de descargar el último saco, pensó
en todas las bocas que su hermano mayor tenía que alimentar.
“Necesita el
grano más que yo —pensó—. Ya sé lo que haré. Sin que lo sepa, le dejaré três sacos
de los míos al lado de los suyos, y por la mañana se llevará una buena
sorpresa.”
Cuando hubo
oscurecido, cargó tres sacos en su burro y, bajo un cielo sin estrellas, tomó
el camino del valle para ir al pueblo de su hermano y, una vez allí, entró en
el almacén donde se guardaba el grano.
Al otro día, el
hermano más joven notó algo extraño. En su cobertizo había demasiados sacos
de grano. Los
contó... y había veinte. Si había regalado tres, sólo tendrían que quedar
diecisiete.
¿Cómo era
posible que hubiese veinte? ¿Lo habría soñado?
Se pasó todo el
día dándole vueltas y cuando se hizo de noche volvió a cargar tres sacos de grano
sobre su burro, decidido a ayudar a su hermano. Esta vez, tomó el camino más
corto que subía montaña arriba, volvió a dejar tres sacos en el almacén de su
hermano y sin que nadie le viera regresó a casa.
A la mañana
siguiente, volvió a contar los sacos que ten nuevo contó hasta veinte. “¿Pero cómo
puede ser? Deben de ser imaginaciones mías —pensó—. Esta noche, de todos modos,
se los llevaré de verdad.”
Aquella noche,
por tercera vez, volvió a recorrer el camino de la montaña para ir al pueblo de
su hermano. Esta vez había luna llena y la noche era muy clara. Cuando llegó a
lo más alto de la montaña, vio a su hermano que se dirigía hacia él con su
burro. Era como si estuviera caminando en dirección a su propio reflejo.
Sin decirse una
palabra, los dos entendieron por qué se habían encontrado en el camino. Y sus corazones
se llenaron de alegría al darse cuenta del amor fraternal que les unía. Aquella
montaña, entre los dos pueblos, fue el lugar donde se fundó la ciudad de
Jerusalén. En el mismo sitio en el que se encontraron los dos hermanos, un
lugar santo, se construyó el templo sagrado.
Con estas palabras,
Salomón terminó la historia. Los dos hombres se quedaron en silencio, y todos los que estaban en
la sala esperaron a oír qué dirían. Al cabo de mucho rato, el mayor levantó la mirada.
—Hermano —dijo—, lo que
una vez fue de nuestro padre ahora es nuestro. Ni tuyo ni mío, sino nuestro, y tenemos
que compartirlo.
Los dos hermanos se
abrazaron y abandonaron la sala cogidos del brazo. Desde entonces, ellos y sus familias vivieron
felices juntos. Y no había historia que sus hijos escucharan con más atención e interés que la de los dos
hermanos, la historia que el sabio rey Salomón les había contado a sus padres.
JERUSALÉN
Sí alguna vez vais de
viaje y os encontráis en ese punto en el que Europa toca con Asia y Asia toca con África,
encontraréis una ciudad que rebosa historia y misterio. Atravesad sus murallas,
explorad su laberinto de callejuelas y mercados y descubriréis antiguos lugares
de oración en cada rincón. También veréis una magnífica mezquita coronada con
una gran cúpula dorada, innumerables iglesias y capillas, y una larga pared
frente a la cual todos los días rezan miles de personas.
Desde tiempo inmemorial,
todos los años es destino de peregrinos del mundo entero que van allí a rezar y rendir
culto. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? Los árabes la llaman Al-Quds, ciudad sagrada;
en hebreo se llama Yerushalayim; en castellano la llamamos Jerusalén.
Y ¿cómo se creó esta
ciudad? Esta narración nos da una respuesta. El cuento se puede oír en las sinagogas de todo el
mundo, donde se cuenta como un relato judío. También lo conocen los árabes
palestinos que viven en la ciudad y en sus alrededores. Para ellos es un cuento
popular árabe.
La historia fue escrita
por primera vez hace unos doscientos años por un viajero que en Jerusalén la oyó contar a
un campesino árabe. Desde entonces ha ido pasando de unos a otros, de un lugar
a otro, recorriendo todo el mundo. No forma parte de ningún libro sagrado ni de
los judíos, ni de los musulmanes, ni de los cristianos; se trata más bien de un
sencillo cuento transmitido a lo largo de centenares de años, quizá miles, que
se ha mantenido vivo gracias a la fuerza de su mensaje.
Jerusalén sigue siendo
una ciudad sagrada, que ocupa un lugar muy especial en la historia y en las creencias de judíos,
cristianos y musulmanes. En Jerusalén es donde vivió y oró Abraham, y donde nacieron
sus hijos Isaac e Ismael. Se cree que tanto judíos como árabes descienden de
esos dos hijos de Abraham. Jerusalén fue gobernada por el rey David, tras haber
vencido a Goliat con la honda.
Poco después, Salomón
llegó al trono y mandó construir el templo, que más tarde fue destruido por invasores.
Con el tiempo, Jerusalén
fue la ciudad donde Jesús impartió sus enseñanzas. Y posteriormente se convirtió en el lugar
desde donde el profeta Mahoma inició su viaje sagrado hacia el cielo para recibir
el mensaje de Dios, y donde dos magníficas mezquitas se construyeron en el
lugar que ocupaba el antiguo templo.
Desde entonces, Jerusalén
ha sido testimonio de múltiples guerras y ha tenido numerosos gobernantes, árabes,
turcos y europeos, unos después de otros. Hoy, la ciudad todavía es objeto de cruentas
batallas, ya que tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho sobre
ella.
Quién sabe si algún día
habrá paz allí. Quizá si ahora Salomón estuviera vivo podría contar la historia y ayudaría a hallar una solución.
Chris Smith
Una ciudad, dos
hermanos
Barcelona, Intermón
Oxfam, 2007
(adaptación)
EL RELOJ DE MI ABUELA

En casa de la abuela hay un reloj de pie, pero no funciona. Las manillas de su enorme esfera nunca se mueven. Una vez, abrí la puerta delantera para ver por qué, y no encontré más que un paraguas, un bastón y un cuadro del rey Zog.
—Deberíais arreglar el reloj —dije.
—¿Por qué? —dijo el abuelo—. ¡Al menos dos veces al día da la hora bien!
—¿Por qué? —dijo la abuela—. Si tengo muchos otros relojes que me dicen qué hora es.
Miré a mí alrededor. En casa de la abuela no había más relojes.
—¿Dónde están? —pregunté.
La abuela dijo:
—Puedo contar los segundos con los latidos de mi corazón. ¿No te has dado cuenta de que los segundos pasan más deprisa cuando la vida es emocionante?
Los momentos son mucho más cortos que los segundos. Pasan en un abrir y cerrar de ojos.
Un minuto es lo que se tarda en pensar algo y decirlo con palabras. En dos, puedo leer una página de mi libro.
Una hora es lo que tarda el agua de la bañera en enfriarse... o lo que tarda el abuelo en leer el periódico.
O lo que tardamos los dos en pasear al perro.
Puedo saber qué hora de la mañana es por las sombras del magnolio, que son más cortas. Cuando vuelven a alargar-se, es que ha llegado el atardecer.
Cada mañana, los pájaros me despiertan temprano con su canto matutino.
Cada atardecer, veo desde la ventana las luces de las otras casas, que hacen señales a los barcos que están en la mar: si están encendidas, es hora de cenar; si están apagadas,
es hora de dormir.
Tú sabes que el día se ha terminado cuando tu madre te da un beso de buenas
noches, ¿verdad?
—¿Y cómo sabes qué día de la semana es? —le pregunté a la abuela.
—Eso también es muy fácil —me contestó.
El lunes, por el aroma que desprenden los bizcochos horneados desde las ventanas abiertas.
El martes, por los barcos pesqueros que regresan a casa.
El miércoles, por el ruido que arman los basureros recogiendo la basura.
El jueves, por los roces de los zapatos de la escuela.
Y los viernes, por las caras grisáceas en el tren.
Sé que ha llegado el fin de semana porque todo va más despacio.
Los sábados hay tiempo para jugar.
Y los domingos, las familias, como la nuestra, se reúnen. Por eso el domingo es mi día
preferido.
En una semana se acumula polvo suficiente en el reloj de pie como para necesitar
una limpieza.
En un mes, la luna crece y mengua, tejiendo en la noche su crisálida dorada, para después, poco a poco, dar paso a la oscuridad.
Las mareas también te dicen el tiempo. Seguían por la luna.
Las estaciones son fáciles, claro: con las flores en primavera, la brisa cálida y húmeda del verano, los árboles teñidos de fuego en otoño, y los días de nieve en los que tu aliento parece humo de dragón.
En cuanto a los años —dijo la abuela triste—, los puedes contar fácilmente por las canas de mi cabello, por las arrugas de mi cara. ¡Y por lo cerca que está tu cabeza de la mía!
La vida, claro está, se puede medir de distintas maneras: en cumpleaños, en amigos, en lo que posees… o en lo que recuerdas.
Pero cuando eres muy afortunada, como nosotros, y tienes nietos, sabes que la vida ha completado su círculo.
Para los siglos, pues bien, tenemos cometas en sus órbitas y eclipses de sol y de luna. Fíjate: todo el universo es como un reloj.
¡Y ahí están las estrellas!
La abuela cerró los ojos, pero más de un momento, no se trataba de un abrir y cerrar de ojos.
Las estrellas nos dicen que el tiempo es tan grande que no cabe en ningún tipo de reloj, ni siquiera en el que tenemos en la entrada.
—Pero aun así, todavía necesitáis el reloj de pie —le dije a la abuela.
Ella suspiró pacientemente.
—¿Y por qué?
—Bueno —le dije...
—Si no, ¿dónde vais a meter el paraguas, el bastón del abuelo y el retrato del rey Zog?
Geraldine McCaughrean
El reloj de mi abuela
León, Editorial Everest
CORRE, CORRE
Niñas y niños tienen derecho a disponer de tiempo y lugares adecuados para jugar, así como a practicar actividades artísticas y culturales.
De lunes a viernes, cuando salgo del colegio voy volando a la reunión de scouts.
—¡Siempre listos para servir!
De la reunión de scouts, voy volando a clases intensivas de inglés.
—Hey kids, see you tomorrow!
De mis clases intensivas de inglés, voy a casa a hacer mis deberes.
—Hijo, acuéstate, ya es muy tarde.
—Ya termino, mamá.
Los fines de semana voy al entrenamiento de atletismo…
—A sus puestos, listos, ¡Ya!
…ayudo en las labores de la casa y hago más deberes.
—Héctor, ¿vienes con nosotros al cine?
—No puedo, mamá; aún no he acabado mis tareas.
—¡GUAU, GUAU!
—Comotú, quieto, échate a dormir y déjame hacer los deberes,
¿vale?
—Comotú, no…, quieto. Tienes la lengua pringosa. ¡Me haces
cosquillas!
—Comotú, ¡déjame en paz! Así que quieres jugar, ¿eh? Pues bueno, vamos al parque.
—¡Ahhhh! Me has hecho reír y correr mucho. ¿Sabes una cosa, Comotú?
—Envidio la vida que llevas. No te ponen deberes, no necesitas entrenar atletismo, ni aprender otro idioma y te pasas casi todo el tiempo jugando y durmiendo. ¡Ahhhh! Comotú. Te prometo que de ahora en delante voy a sacar más tiempo para jugar y descansar y voy a tener menos compromisos, como tú. ¿De acuerdo?
Gladys Herrera Patiño
Corre, Corre
Desclée edex, 2005
UN REY MAGO MUY ESPECIAL

Los teléfonos de la empresa de mensajería El Rayo Veloz no habían dejado de sonar desde primera hora de la mañana. Ya estaba próxima la Navidad y el transporte de paquetes, cada día más intenso, había obligado a coger nuevos empleados. Sentado en una de las sillas de la oficina, Adrián pasaba una y otra vez las hojas del periódico, incapaz de leer más allá de los titulares. Era su primer día de trabajo y no podía evitar que el nerviosismo lo dominara.
Sus compañeros fueron saliendo a hacer diversos encargos. Cuando volvió a sonar el teléfono, supo que esta vez le tocaría a él. Después de colgar, su jefe le dijo:
—Adrián, aquí tienes tu primer servicio. Hay que recoger un sobre en la calle Pingüino, 54; tienes la dirección completa en esta nota. Allí ya te indican adonde hay que llevarlo.
Adrián salió del local y subió a su moto. No hacía frío, pero el cielo estaba encapotado y caía una lluvia fina que les daba a las calles un aire triste. Tendría que andar con cuidado, solo le faltaba comenzar con un accidente.
Pronto llegó al sitio indicado, una calle en la parte céntrica de la ciudad. Ya en el edificio, subió al 6° I. Después de varias llamadas en el timbre, le abrió la puerta una mujer que parecía llevar encima la ropa de medio armario. Tendría unos cincuenta años, y lo primero que llamaba la atención era su nariz colorada y sus ojos enrojecidos. Aquella señora tenía un resfriado de los buenos, no había más que verla.
—Buenos días. ¿Doña Pilar Merlón? Soy de la mensajería El Rayo Veloz. ¿Es aquí donde hay que recoger un sobre?
—Sí, es aquí. ¡Ya pensaba que no llegarías nunca! —contestó la mujer—. Aguarda un momento, que lo voy a buscar.
Volvió al poco tiempo con un sobre acolchado en la mano. Se lo entregó a Adrián, al tiempo que le decía:
—Tienes que llevarlo cuanto antes al colegio Los Robles, en la Avenida de la República. ¿Sabes dónde es?
—Sí, señora. Es el que queda en el barrio del Ensanche, he pasado muchas veces por delante de él.
—Pues es imprescindible que vayas ahora mismo. Yo doy clases allí, pero hoy no puedo ir, tengo una gripe tremenda —le explicó la mujer—. Dentro de este sobre van los boletines de notas de mi curso, se los tienen que entregar hoy a los alumnos. Cuando llegues, preguntas por el director y se lo das a él. ¿Me has entendido bien?
—Sí, señora, está todo clarísimo. Ahora firme aquí.
La mujer firmó el recibo justificatorio y, sin despedirse, cerró la puerta de golpe. Desconcertado, Adrián bajó otra vez a la calle. Encendió la moto y se dirigió al Ensanche. ¿Así que en aquel sobre iban los boletines de notas? Recordó sus años escolares, la sensación de miedo que siempre tenía cuando le daban las notas, la expresión de enfado de sus padres al leer su boletín. La escuela había sido para él una tortura continua, le había costado mil esfuerzos ir aprobando los cursos.
¿Qué calificaciones pondría aquella tal doña Pilar? Le había parecido ver en ella una expresión amarga, y no solo por la gripe. Seguro que allí, dentro del sobre, había un montón de suspensos. ¡Pobres chavales! A algunos de aquellos niños les iban a amargar la Navidad, como tantos años le había pasado a él. ¡Adiós a los regalos de Reyes!
La idea le vino a la cabeza de repente, como un fogonazo. Miró el reloj, que marcaba las diez y media. Aquel colegio no estaba lejos, tenía tiempo de sobra.
Aparcó la moto delante de una cafetería que le pareció tranquila. Entró y se sentó en una mesa del fondo, alejada de cualquier ruido. Pidió un café con leche y un cruasán, había que celebrar el primer día de trabajo. Después abrió el sobre con mucho cuidado. Dentro estaban los boletines de notas: veinticinco cuadernillos de tapa verde con los nombres de los alumnos de 5.° B ordenados alfabéticamente.
Abrió algunos, al azar. ¡Su intuición no le había fallado! Aquella profesora debía ser de las que gozaban poniendo notas bajas, pues en varias materias aparecían las temidas letras N. M. que indicaban la calificación insuficiente, acompañadas de abundantes signos negativos. ¡Aquella injusticia precisaba de su intervención!
Le pidió al camero que le vigilase el casco y el sobre, pues debía salir un momento. Ya en la calle, no tuvo que buscar mucho, pues unos pocos portales más adelante encontró la papelería que buscaba.
Entró en ella y compró un corrector y un rotulador exactamente igual al utilizado por la profesora. Después volvió para la cafetería. Se sentó otra vez, ordenó todos los materiales sobre la mesa y se dispuso a comenzar la labor.
La primera alumna era Álvarez Montenegro, Cristina. Tenía cinco P. A., alguno de ellos acompañado de signos negativos, y dos N. M. Adrián borró con pericia los N. M. y escribió P. A. por encima, imitando la letra de la profesora. Los signos negativos pronto se transformaron en positivos, eso era lo más fácil de arreglar.
Lo más difícil estaba abajo, en el apartado dedicado a «Observaciones». En él, doña Pilar había escrito: «Cristina debe trabajar más. Y tiene que mejorar su atención en clase». Aquello sí que era
un reto para la habilidad de Adrián, pues debía imitar muy bien la letra. Hizo varias pruebas en las servilletas de papel, hasta conseguir una caligrafía que se asemejaba mucho a la de la profesora.
En el espacio que quedaba en blanco, Adrián añadió: «Como es una niña muy lista, estoy segura de que lo conseguirá. Deben animarla mucho para que coja más confianza en sí misma». Al acabar, revisó toda la página. ¡Le había quedado estupenda! ¡Aquella Cristina iba a ser la reina de la casa durante las fiestas de Navidad!
A continuación, cogió el segundo boletín: Antúnez Novo, Miguel. Al abrirlo, lo inundó una súbita corriente de solidaridad con aquel niño. ¡El boletín estaba repleto de llamativos N. M. y de signos negativos!
Adrián decidió dejarle el N. M. en Matemáticas, tampoco era cuestión de pasarse de listo y levantar sospechas. El resto se lo transformó todo. Lo peor era el apartado de «Observaciones», donde la profesora había sido contundente y cruel: «Miguel no atiende ni trabaja. Su comportamiento es pésimo». En un intento de arreglarlo, Adrián añadió: «Aun así, es un niño con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Si todos lo animamos, mejorará mucho en los próximos meses».
Satisfecho con el resultado, cogió el tercer boletín. Asís-Torreblanca de la Merced, Carlota María. ¡Impresionante! Todos eran P. A. y signos positivos. Lo asaltó la tentación de suspenderle alguna, pero decidió dejarlo tal como estaba, la pobre niña no tenía culpa. Leyó después el comentario de las «Observaciones»: «Carlota es una alumna ideal: obediente, aplicada, formal. Mi enhorabuena más cálida». Adrián añadió a continuación el siguiente comentario: «Sin embargo, no le vendría mal jugar más con los compañeros, no todo va a ser estudiar. ¡Anímenla a divertirse!».
Y así, uno a uno, Adrián fue arreglando todos los boletines. El último, Zamora Zunzunegui, Andrés, también debía ser un chaval de los que la profesora tenía atragantados, porque precisó entregarse a fondo para que pudiera tener unas fiestas de Navidad felices.
Satisfecho, Adrián volvió a colocar los boletines como estaban y cerró el sobre de nuevo. Pagó y salió de la cafetería, mientas notaba cómo una cálida alegría le recorría todo el cuerpo. Aquellos chavales de 5.° B tendrían unas vacaciones afortunadas, mejores que ningún año. Y hasta doña Pilar tendría su regalo, pues todos los alumnos trabajarían mejor en los próximos meses. Nadie mejor que él sabía lo poderosas que pueden ser unas palabras de estímulo, dichas por alguien que te quiere.
Había parado de llover, hasta entonces no se había dado cuenta. Entre las nubes se abrían algunos trozos de cielo azul. Por uno de ellos asomó el sol, y sus rayos acariciaron la cara de Adrián. Como la estrella de Oriente que había guiado a los Reyes Magos por el desierto, aquel sol salía para guiarlo a él por las calles de la ciudad. Así se sentía Adrián, como un nuevo Rey Mago, cabalgando en su moto, con aquel sobre cargado de regalos que pronto repartirían entre los niños y niñas.
¡Qué empleo tan estupendo el de El Rayo Veloz! Además de cumplir con su trabajo, podía repartir alegría casi sin esforzarse. «Esta será una Navidad distinta —pensó, al tiempo que en su cara se dibujaba una sonrisa—. ¡El cuarto Rey Mago recorre en secreto las calles de la ciudad!».
Agustín Fernández Paz
Ana Garralón
El gran libro de la Navidad
Madrid: Anaya, 2003
LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS

¡Qué frío hacía!; nevaba y comenzaba a oscurecer; era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero, ¡de qué le sirvieron! Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes, que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos.
Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos, y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero chelín; volvíase a su casa hambrienta y medio helada, ¡y parecía tan abatida, la pobrecilla!
Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello; pero no estaba ella para presumir.
En un ángulo que formaban dos casas -una más saliente que la otra-, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo, y, por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también; sólo los cobijaba el tejado, y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi ateridas de frío. ¡Ay, un fósforo la aliviaría seguramente! ¡Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos! Y sacó uno: «¡ritch!». ¡Cómo chispeó y cómo quemaba! Dio una llama clara, cálida, como una lucecita, cuando la resguardo con la mano; una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón; el fuego ardía magníficamente en su interior, ¡y calentaba tan bien! La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa, y ella se quedó sentada, con el resto de la consumida cerilla en la mano.
Encendió otra, que, al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a ésta transparente como si fuese de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan sólo la gruesa y fría pared.
Encendió la niña una tercera cerilla, y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena, a través de la puerta de cristales, en casa del rico comerciante. Millares de velitas, ardían en las ramas verdes, y de éstas colgaban pintadas estampas, semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos... y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto, y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo; una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego.
«Alguien se está muriendo» -pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho-: Cuando una estrella cae, un alma
se eleva hacia Dios.
Frotó una nueva cerilla contra la pared; se iluminó el espacio inmediato, y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa.
-¡Abuelita! -exclamó la pequeña-. ¡Llévame, contigo! Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela; y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa; tomó a la niña en el brazo y, envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios Nuestro Señor.
Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas, y la boca sonriente... Muerta, muerta de frío en la última noche del Año Viejo.
La primera mañana del Nuevo Año iluminó el pequeño cadáver, sentado, con sus fósforos, un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo. «¡Quiso calentarse!», dijo la gente. Pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del Año Nuevo.
Hans Christian Andersen
HISTORIA DE NAVIDAD
Mientras el zorro paseaba por el bosque y dejaba sus huellas en la nieve, recordó que
muy pronto llegaría la Navidad.
De repente, oyó un ruido extraño y en seguida divisó, detrás de un árbol, lo que parecia ser un hombre vestido de rojo.
El ruido lo hacían los ronquidos de un anciano que dormía plácidamente apoyado tronco de un árbol.
El zorro se acercó, y fue grande su sorpresa al descubrir que el anciano era… ¡nada
menos que Papá Noel”.
“Qué pronto ha venido este año”, pensó. Y rápidamente se fue a llevar la noticia a los
animales del bosque.
Al poco rato, acudieron animales de todas partes para ver a Papá Noel.
—¿Por qué has venido tan pronto? Todavía no es Navidad —preguntaron todos a la vez.
El anciano sonrió.
—Estoy viejo y muy cansado, y este año, como todos los años, pienso que no podré
llevar los regalos de Navidad. ¡Pesan tanto!
Los animales se miraron unos a otros, muy preocupados. Un pajarillo preguntó:
—Entonces, ¿no habrá Navidad?
—¡Claro que sí! —contestó amablemente Papá Noel—. ¡Qué sería la Navidad sin mí! Y ahora escuchadme. Quiero contaros la historia de la primera Navidad.
“Ocurrió hace muchísimo tiempo en un lejano pueblo llamado Belén.
En el campo, unos pastores cuidaban sus rebaños y se tapaban con gruesas mantas. La noche era serena, pero hacía mucho frío.”
“De repente, una estrella resplandeciente apareció en el cielo. Los pastores levantaron y uno de ellos la señaló con el dedo. En ese momento, oyeron una dulce voz que les dijo.
—Alegraos porque en Belén acaba de nacer el Niño Jesús. Dios ha enviado a su Hijo al mundo como prueba de su amor. La estrella os indicará el camino para llegar hasta El.”
“Los pastores se pusieron en camino, y, siguiendo a la estrella, cruzaron puentes, valles y colinas.”
“Por fin, la estrella se detuvo sobre un pequeño establo a las afueras de Belén. Cuando los pastores entraron, vieron al Niño Dios en el pesebre que le servía de cuna, y le adoraron.”
—Es una historia preciosa —dijeron los animales a coro.
—Si —afirmó Papá Noel—. Dios nos regaló su amor y por eso somos tan dichosos en
esta época del año. El amor de Dios es lo más importante de la Navidad.
—¡Qué tontos hemos sido! —dijo el zorro—. Creíamos que la Navidad eran sólo los
regalos.
—También lo son —dijo Papá Noel.
Luego sonrió y dijo:
—¡Tenemos que darnos prisa! ¡Falta muy poco para Navidad y hay tanto que hacer!
Entonces el anciano, seguido de sus amigos, echó a correr hacia su casa sobre la blanca capa de nieve que cubría el bosque. Desde luego no parecía nada cansado.
Durante los días siguientes, el bosque se quedó desierto. Todos los animales estaban en casa de Papá Noel ayudándole.
La víspera de Navidad, los renos llevaron a Papá Noel a repartir los regalos a través del aire helado de la noche.
Cuando volvieron, los animales habían preparado la cena. El anciano era feliz. Luego,
repartió los regalos que le quedaban entre los animales y todos juntos se sentaron alrededor del fuego. Entonces Papá Noel les volvió a contar la historia de la primera Navidad, esa que tanto le gustaba, mientras sus amigos empezaban a quedarse dulcemente dormidos.
Al día siguiente, Papá Noel estaba muy sonriente. Sabía, y ahora también lo sabían sus amigos, que el mejor regalo de Navidad es la propia Navidad.
Hisako Aoki
Historia de Navidad
Madrid, Ediciones Gaviota, 1997
ANA FRANK

BEN EL VALIENTE

Ana Frank: «Nos veo a los ocho y a la Casa de atrás, como si fuéramos un trozo de cielo azul, rodeado de nubes de lluvia negras, muy negras. La isla redonda en la que nos encontramos aún es segura, pero las nubes se van acercando, y el anillo que nos separa del peligro inminente se cierra cada vez más. Ya estamos tan rodeados de peligros y de oscuridad, que la desesperación por buscar una escapatoria nos hace tropezar unos con otros. Miramos todos hacia abajo, donde la gente está peleándose entre sí, miramos todos hacia arriba, donde todo está en calma y es hermoso, y entretanto estamos aislados por esa masa oscura, que nos impide ir hacia abajo o hacia arriba, pero que se halla frente a nosotros como un muro infranqueable, que quiere aplastar nos, pero que aún no lo logra. No puedo hacer otra cosa que gritar e implorar: "¡Oh, anillo, anillo, ensánchate y ábrete, para que podamos pasar!".»
El Diario de Ana Frank, noche del lunes, 8 de noviembre de 1943
La historia de Ana Frank comienza con una niña cualquiera, alguien con quien podrías haber compartido pupitre en clase. Tenía unos ojos grandes color de avellana y el cabello ensortijado y oscuro. Era una niña popular y llena de vida que estaba siempre rodeada de amigos.
La mayor parte del tiempo, Ana se sentía en el séptimo cielo. Pero a ratos tenía miedo. No le faltaban razones: Adolf Hitler gobernaba Alemania por aquel entonces y había jurado que se desharía de los judíos. Ana Frank era una judía alemana.
Ana nació en Francfort el 12 de junio de 1929. Desde el comienzo se hacía escuchar. ¡No paraba de chillar! Cuando su hermana, la pequeña Margot, se asomaba a la cuna, no podía evitar reír. Su hermanita Ana tenía una mata de pelo color negro y unas orejas que asomaban como las de un duendecillo.
La familia de Ana era afortunada. Tenía dinero y el padre tenía trabajo. Pero para mucha gente en la Alemania de aquellos años, la vida era una lucha implacable.
Se culpó a Alemania de haber iniciado la Primera Guerra Mundial y tuvo que pagar grandes cantidades de dinero en compensación por la destrucción causada. Aquél fue un severo castigo. Diez años después de finalizada la guerra, Alemania estaba sumida en la más absoluta pobreza.
Demasiada gente se encontraba sin trabajo. Muchos no tenían qué comer. Pero todos recordaban lo rica y poderosa que había llegado a ser Alemania, una de las más grandes naciones del mundo, de tal modo que los alemanes se sentían cada vez más enfadados y desgraciados. Buscaban echarle la culpa a alguien -y fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar de un modo espantoso para los judíos.
Había un hombre llamado Hitler –un hombrecillo rígido con bigote– que hablaba todo el tiempo y prometía grandes cosas. A su alrededor se congregaban grandes multitudes. Eran personas sin trabajo, sin esperanza, ¡Cómo extrañarse de que lo aclamaran cuando prometía devolver a Alemania su poderío y riqueza!
Hitler odiaba a los judíos, y no le importaba contar toda clase de mentiras acerca de ellos. ¿Quién tenía la culpa de todos los problemas de Alemania? Hitler tenía la respuesta. Acusó a los judíos de quedarse con los mejores puestos de trabajo y arrebatarles el pan de la boca a los trabajadores. Y esto no era justo, porque los alemanes eran especiales: ¡la mejor raza del mundo! sí que más y más personas acudían a oírle y a votar por el Partido Nazi, el partido de Hitler. Al comienzo no suponía una amenaza, era sólo una chispa. Pero la chispa se convertiría en llama y la llama en un incendio que acabaría arrasando toda Europa antes de que pudiera ser apagado.
Se podía atemorizar a los judíos de muchas maneras y hacer que se sintieran despreciados, incluso a los niños.
En la escuela, los niños comenzaban a fijarse en quién de entre ellos era judío. Algunos se burlaban de sus compañeros y llegaban aintimidarlos. Era un trago muy amargo para los niños judíos ver cómo chicos y chicas que habían sido sus amigos los zarandeaban e insultaban.| Y pronto tuvieron que sentarse aparte, en un rincón del aula.
Era aún peor en el mundo de los adultos. La gente dejó de dirigir la palabra a sus vecinos judíos. Las vitrinas de las tiendas judías eran destrozadas. Los judíos eran acosados en la calle, incluso les propinaban palizas las bandas de gamberros a los que Hitler llamaba sus Tropas de Asalto. Si trataban de defenderse, los arrestaban y deportaban.
Al comienzo, los judíos se sintieron desconcertados ante tanto odio. Pronto sintieron miedo. Muchos abandonaron Alemania. En cuanto al señor Frank, preocupado por su familia, encontró trabajo en los Países Bajos y un piso no muy caro para todos ellos en Amsterdam.
Ana se quedó en casa de su abuela durante el traslado. Se reunió con su familia el día del octavo cumpleaños de Margot. ¡Qué sorpresa! ¡Ahí estaba la pequeña Ana, encaramada como un duendecillo sobre la pila de regalos de Margot!
El edificio de apartamentos donde vivían los Frank tenía un jardín. Todos los niños del vecindario salían a jugar cuando hacía bueno. Hacían el pino, jugaban al escondite entre los matorrales, patinaban deslizándose por el pavimento. Para avisar a sus amigos, no llamaban a la puerta o tocaban el timbre. Les bastaba con silbar una melodía que todos conocían, Ana no había aprendido a silbar, así que tenía que cantarla.
Una mañana de invierno Ana acompañó a su padre a la oficina, donde le presentaron a la asistente, que se llamaba Miep.
Miep ayudó a Ana a quitarse su abriguito de piel blanco y le dio un vaso de leche. Le enseñó a usar la máquina de escribir. ¡Ana era precisamente el tipo de niña lista que a Miep le hubiese gustado tener!
Miep no podía saber que algún día su vida pendería de un hilo debido a los Frank, pero se encariñó con Ana desde el primer momento.
Ana y Margot iban a distintos colegios. Por fortuna, ya que Ana era traviesa en la escuela. ¡Nada que ver con su hacendosa hermana! A Ana nada le gustaba tanto como contar chistes y hacer muecas hasta que toda la clase, incluso los maestros, se echaba a reír.
A las amigas de las dos hermanas les encantaba ir de visita a su casa, ya que la señora Frank preparaba los más deliciosos dulces. ¡Y cuando el señor Frank se sumaba a ellas se convertía en la estrella de la fiesta! Siempre se le ocurría alguna historia divertida que contarles, o les enseñaba un juego que acababa de inventar. Todos niños lo querían.
Pero nadie podía olvidar la campaña de odio desatada por Hitler. Muchos judíos alemanes huían a Amsterdam, y el señor y la señora Frank escuchaban angustiados las horrorosas historias que contaban. Historias de intimidaciones feroces, de campos donde sin ninguna razón se encerraba a la gente y se le obligaba a trabajar para los alemanes.
Y llegó el momento en que el poderoso ejército alemán comenzó a avanzan Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra, pero las tropas germanas lo barrían todo a su paso. Pronto vieron los holandeses, indefensos, cómo los soldados alemanes desfilaban por las calles de Amsterdam.
De nuevo los judíos eran brutalmente atropellados, y los ciudadanos holandeses no tardaron en comprender que era peligroso salir en su defensa.| Se ordenó a todos los judíos mayores de seis años que llevaran puesta una gran estrella amarilla con la palabra Jood impresa. Hasta a los más pequeños se les podía prohibir la entrada a lugares públicos, como parques y cines y piscinas.
A Ana le encantaba ir al cine, pero ahora ya no la dejaban entrar. Tenía que conformarse con su colección de carteles de artistas famosos, sus fotografías y postales. ¡Y nadie se tomaría la molestia de quitárselas!
Era demasiado tarde para huir hacia otro país. Y las cosas sólo podían empeorar.
El señor Frank trabajaba en un gran edificio a orillas del canal. Algunas de las habitaciones traseras de la parte alta estaban vacías. Poco a poco, cautelosamente y a escondidas, trasladó muebles y provisiones a este anexo del edificio, e hizo que instalaran un retrete y un lavabo. Si los alemanes los hubieran descubierto, a él y a sus valientes amigos holandeses, el castigo habría sido terrible.
Pero todo salió bien. Ahora estaba preparado si estallaba una crisis. Y no tardo en estallar.
Margot había cumplido dieciséis años. Un día del verano de 1942 llegó una carta, donde le ordenaban que abandonara su hogar y se presentara al servicio del trabajo obligatorio. Esto quería decir trabajar para los alemanes. Probablemente su familia no volvería a verla nunca más.
Tenían que desaparecer, y rápido. A Ana y Margot les dijeron que recogieran sus tesoros más preciados. Con el corazón en la boca, Ana lleno un maletín con sus objetos más queridos: libros escolares, cartas, un cepillo y unos bigudís, pero sobre todo, el diario que le habían regalado en su último cumpleaños. Lo aplastó todo con manos torpes y temblorosas.
Al día siguiente, temprano por la mañana, se embutió en varias camisas y pantalones, dos pares de medias, un vestido, una falda, una chaqueta, un impermeable, un par de zapatos fuertes, un gorro y una bufanda. Sólo así podía llevarse su ropa –cualquier judío que cargara con una maleta levantaría sospechas.
Dejaron el piso con las camas en desorden y el fregadero lleno de platos sin lavar, y un pedazo de papel con una dirección falsa garabateada, para despistar a los vecinos. Ana se despidió de Moortje, su gatito querido. Lloraba amargamente. ¿quién podría asegurarle que volverían a verse de nuevo?
Miep los estaba esperando en la oficina del señor Frank. Rápidamente y sin hacer ruido, la siguieron por un largo pasillo y subieron por una escalera de madera que daba a una puerta gris. Por ella se llegaba al refugio secreto.
Ana miraba sorprendida a su alrededor. ¡Su padre había hecho todo esto, lo había preparado todo, sin decir nada a nadie! ¡Pero cuánto desorden! Cajas y cartones, cosas apiladas y amontonadas... La señora Frank y Margot sólo alcanzaron a desplomarse en las camas ante este panorama, agotadas de tanto miedo y nervosismo. Así que Ana y su padre se pusieron manos a la obra para ordenarlo todo.
Desde esa mañana, día tras día, semana tras semana, tuvieron que permanecer ocultos. Durante las horas en que había actividad en el edificio, tenían que guardar silencio en el refugio como si fueron ratoncitos; no podían ni siquiera abrir un grifo o vaciar el retrete. Estaban en constante peligro de ser descubiertos y denunciados a la policía. ¡Cuánto anhelaban las visitas de Miep cuando los empleados se habían marchado! Siempre estaba de buen humor y les traía noticias de lo que sucedía, junto con periódicos y libros p ara pasar el rato, y cosas que les traía de la compra.
Tener que permanecer callada durante todo el día… ¡Aquello era casi insoportable para una niña como Ana!
El reloj de una iglesia cercana la reconfortaba. Daba los cuartos, y ello le recordaba que aún existía un mundo ahí afuera donde los niños iban al colegio y jugaban juntos y no les aterraba que los vieron u oyeron.
Pronto se mudó a vivir con ellos otra pareja con su hijo, Peter. Ahora había siete personas escondidas en el exiguo refugio, y pronto llegaría una octava. ¡Cómo extrañarse de que se sintieron irritados y molestos todo el tiempo!
Ana era la más joven, y la que más sufría. Era inteligente e imaginativa, nerviosa y sensible, y de todos modos habría tenido una adolescencia difícil. Ahora tenía la sensación de que siempre se le echaba la culpa cuando algo salía mal, mientras que nadie criticaba a Margot. Quería a su padre más que nadie, pero incluso él a veces la reñía, y eso no podía soportarlo. Muchas noches lloraba en su cama.
Necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar, alguien que pudiera comprenderla. No podía ser Margot, tampoco Peter, que era perezoso y mimado, además, no le había gustado nada al principio. Se volcó en su diario, el diario de sus cartas dirigidas a la «Querida Kitty», una niña que había conocido hacía tiempo. Ahora anotaba hasta sus más íntimos pensamientos porque Kitty no podría leerlos, de manera que no podía inventar historias. Aquel librito era su secreto más preciado.| Describía la vida en el refugio, las riñas y los dramas. Escribía acerca de su amor por la naturaleza, que para ella se limitaba al pedazo de cielo y la copa del castaño que veía a través de la ventana del ático. Escribía sobre el terror, sobre el terror y el pánico.
Sus sentimientos hacia Peter cambiaron a medida que se hacía mayor. Comenzó a comprenderlo. Se querían cada vez más, y ella empezó a escribir sobre el amor y la esperanza.
Cuando el librito estuvo lleno, Miep le trajo más papel.
Por las noches bajaban todos a la antigua oficina del señor Frank a escuchar la radio. Ana se acercaba a veces a la ventana y escrutaba a través de las cortinas. Qué raro se le hacía estar mirando a la gente en la calle, como si ella fuera invisible, como si estuviera envuelta en un manto mágico sacado de un cuento de hadas. Todos parecían tan apurados, tan ansiosos, y sus ropas estaban tan gastadas. La misma Ana iba vestida como un espantapájaros, y no había nada que hacer.
Alemania estaba perdiendo la guerra. Al llegar la noche, oleadas de bombarderos pasaban sobre sus cabezas en su ruta hacia las ciudades alemanas que iban a destruir. Su terrible bramido hacía vibrar el cielo nocturno. Si una bomba cayera en el refugio, todos los que estaban dentro morirían.| Pero por ese entonces Ana ya estaba enamorada de Peter, o casi. Sentada a su lado en el ático, sintiendo su brazo protector sobre sus hombros, se sentía feliz. Hablaban de lo que pensaban hacer cuando acabara la guerra; a veces, se quedaban así, sentados, sin pronunciar palabra, mientras pasaba otro día y la luz del cielo lentamente declinaba. Era un amor tan dulce y frágil como las flores del castaño que veían por la ventana.
Como la guerra estaba a punto de terminar, quizás los habitantes del refugio dejaron de ser todo lo cuidadosos que habían sido al comienzo. El caso es que alguien notó algo y los denunció.
Hubo quien reclamó el dinero de la recompensa que los alemanes pagaban por cada judío capturado.
Y empezó la pesadilla.
Se oyeron los golpes, el estrépito del allanamiento. Ruidos de botas en las escaleras, hombres rudos y armados en uniforme. Estaban atrapados, no había adónde huir, no había dónde esconderse...
Y de repente, el inmenso espacio abierto, la luz y el aire... demasiado para quienes habían vivido encerrados durante más de dos años.
El 4 de agosto de 1944 se llevaron a los ocho refugiados. El refugio fue asaltado y saqueado.
Cuando Miep subió la escalera en la noche de aquel fatídico día, se encontró con un auténtico caos. Las páginas del diario de Ana estaban desperdigadas por el suelo. Miep las recogió y escondió en un cajón, con la imposible esperanza de que la familia algún día regresara.
Pero sólo el señor Frank regresó después de la guerra. Lo habían separado de su esposa e hijas. Sabía que su mujer había muerto. Y rezaba por la suerte de Ana y Margot.
Pero, desgraciadamente, las dos habían muerto de tifus en un campo de concentración alemán. Cuando llegó la mala noticia, fue a su oficina y se sentó en su escritorio. Se sentía terriblemente solo. Ya no le quedaba nada.
Pero Miep se acordó del diario. Lo buscó y se lo entregó, diciéndole:
–Esto es para usted, de parte de su hija Ana.
Ana Frank era tan sólo una niña, y su corta vida había acabado.
Su historia apenas comenzaba.
¿Qué sucedió con el diario de Ana después de la guerra?
Los amigos de Otto Frank le animaron a que publicara el diario de Ana. La primera edición fue publicada con el título El refugio secreto, en junio de 1947, en los Países Bajos, por la editorial Contact, con 1.500 ejemplares. En 1950 se publicó la primera traducción del diario al alemán y las dos versiones en inglés aparecieron en Gran Bretaña y en Estados Unidos en 1952. En 1955 se llevó a escena por primera vez una adaptación dramática de El Diario de Ana Frank, y en 1959 se realizó la primera película basada en esta obra.
La casa en la que Ana se escondió durante más de dos años abrió sus portas transformada en museo en 1960, y en ella se conserva el original del diario. Aproximadamente un millón de personas la visitan cada año; está ubicada en el centro de Amsterdam, en el 267 de Prinsengracht.
Josephine Poole
Ana Frank
Barcelona, Lumen, 2005
URL da imagem: http://4.bp.blogspot.com/-B5WjIn5MhFo/UDnAjwaJTuI/
AAAAAAAAYP0/djVCvviAiWc/s1600/diario_anne_03.jpg
BEN EL VALIENTE

«¡Soy tan cobarde!», se dijo Ben. «Cuando alguien se cuela en la fila de la panadería, no digo nada. Cuando llevo mi peto de flores preferido, tengo miedo de que se rían de mí. Y cuando oigo ruidos raros por la noche, pienso que hay un fantasma debajo de la cama. Necesito ayuda».
Ben consultó la sección de «Ayuda para cobardes» de las Páginas Amarillas, y encontró elnúmero de «El Árbol Mágico». El anuncio decía:
«Previa petición hora. Éxito garantizado».
«¡Mágico! Es justo lo que necesito», pensó Ben, y llamó para pedir cita.
A la mañana siguiente Ben se internó en el oscuro y agreste bosque donde vivía el árbol mágico.
«Estoy en el agreste bosque en compañía de todas las agrestes y extrañas criaturas», había dicho el árbol por teléfono. «Pero son inofensivas, así que no tengas miedo».
Menos mal que el árbol mágico había advertido a Ben. Un terrible dragón apareció de repente en el sendero del bosque. Expulsaba grandes nubes de humo por la nariz y, de vez en cuando, escupía fuego.
—¿Dónde crees que vas? —rugió el dragón. Lo único que pudo hacer Ben fue tragar saliva.| Pero recordó que el árbol mágico le había dicho que no tuviera miedo, así que miró a los amarillos ojos del dragón y dijo:
—Hola, Dragón. Voy a ver al árbol mágico. Tengo cita.
Para sorpresa de Ben, el dragón le contestó con suma cortesía:
—Sigue todo recto y gira a la izquierda en el tercer esqueleto colgante. Dale recuerdos de mi parte al árbol mágico, si eres tan amable.
Tan pronto como Ben entró en el bosque, oyó un fuerte siseo... y antes de darse cuenta de lo que ocurría, se encontró colgando cabeza abajo de una telaraña. Una enorme araña peluda se arrastraba hacia él.
—¡Hummm! —siseó ella—. ¡Mi comida favorita!
Menos mal que Ben sabía que la araña era inofensiva, porque sino se hubiera muerto de miedo.
—Hola, Araña. ¿Podrías soltarme, por favor? Tengo que ver al árbol mágico.
—Vaya —dijo la araña suspirando—. Qué pena —pero desató todos los nudos—. Dile al árbol mágico que su bufanda está casi lista —añadió—. Y que tengas buen viaje.
Ben siguió recorriendo el bosque. Estaba tan oscuro que no podía ver el sendero. Por fin distinguió una flecha con las palabras «Árbol Mágico», pero en ese preciso momento una mano helada le agarró del cuello.
Horrorizado, Ben se dio la vuelta. Una fea bruja se alzaba ante él. De su pelo colgaban arañas y cucarachas, olía mal y sus ojos centelleaban con maldad.
—¿Qué haces en mi jardín? —cacareó.
Cáspita!», pensó Ben. «Menos mal que sé que no hace nada horrible».
—Buenos días, señora —dijo muy educado—. No sabía que estaba en su jardín. Voy de camino al árbol mágico.
—Bueno —dijo la bruja—. No te preocupes. Aquí tienes una calabaza para el árbol mágico. Le saldrá un pastel estupendo.| Ben siguió adentrándose en el bosque.
Los murciélagos revolotearon sobre su cabeza y oyó aullar a los lobos y otros alaridos espeluznantes, pero no hizo ningún caso. Giró a la izquierda en el tercer esqueleto colgante
Allí estaba el árbol mágico: grande e imponente.
—Hola, Árbol Mágico —dijo Ben—. Soy Ben. Tengo una cita...
—Perfecto —dijo el árbol mágico—. Has visto al dragón?
—Uy, sí —dijo Ben—. Me pidió que le diera muchos recuerdos.
—¿Algún problema con la araña?| —Ninguno. Ya casi ha acabado de tejer su bufanda.
—¿Y la bruja?
—Me dio esta calabaza para usted —replicó Ben.
—Ah —dijo el árbol mágico—. Bien, bien. Um. Esto. Er. Biennnnnn…
Y después no dijo nada durante largo rato.
Por fin preguntó:
—¿En qué puedo ayudarte?
—Quiero ser menos miedoso —susurró Ben.
El árbol asintió y dijo muy serio:
—Todo lo que ha ocurrido hoy ha servido para resolver eso. Ahora ya eres valiente de verdad.
Ben volvió a casa feliz. Pensaba:
«Que árbol tan fantástico. Me ha convertido en Ben el Valiente como por arte de magia. Ya no volveré a tener miedo nunca más».
Al llegar a casa, Ben se puso su peto de flores favorito y se acercó a la panadería.
—Perdona, pero yo estaba primero —le dijo a la chica que intentaba colarse. Compró dos pasteles.| Uno para él y otro para el fantasma de su cama.
Mathilde Stein y Mies van Hout
Ben el Valiente
Barcelona,
Barcelona,
Intermón Oxfam, 2007
URL da imagem:http://fama.zupi.com.br/system/works/1264/14873/small/dragao-e-o-menino.jpg?1278775758
CUANDO TENÍA MEDO DE LA OBSCURIDAD
La jornada ha terminado.
«¿Vienes? Es hora de acostarse.»
«¿Ya?»
Roberto se resiste en la escalera.
«No es divertido ahí arriba. Está oscuro y hay monstruos escondidos.»
«No hay ningún monstruo», dice Mamá. «Y te dejaré una luz encendida en el pasillo.»
«No sirve de nada, vendrán igualmente.»
«Dejo la puerta entornada», dice Mamá. «Buenas noches, cariño.»
¡Crac!
«¿De dónde viene ese ruido? Seguramente es el armario.»
Agarrado al cubrecama, Roberto mira el armario. Sigue mirándolo.
Parece que se ha movido.
Sí, sí, se transforma.
Tiene grandes patas como garras.
Mira la cortina. ¡Oh, no! También se mueve. Hay alguna cosa detrás.
Parecen serpientes.
Lentamente Roberto vuelve la cabeza hacia la silla.
Se está transformando.
«¿Tedy, estás aquí??», pregunta Roberto con un hilo de voz.
Pero Tedy no está en la cama.| Está aquí, en el banco. No ha visto nada.
«No te muevas, Tedy. Voy a buscarte.»| Roberto se arma de valor.
¡Mientras la silla y el armario no se acerquen! ¡Y mientras no ponga el pie sobre una serpiente! Esta balsa seguro que está llena.
«¡Valor, Tedy, casi estamos!»
De un salto, Roberto vuelve a su cama y levanta el cubrecama.
«¡Ven! ¡Escondámonos rápido!»
«¿Escondernos? ¿Pero por qué?» pregunta Tedy.
«¡Por los monstruos!», exclama Roberto.
Tedy se acerca al oído de Roberto: «¿Quieres que te cuente un secreto?… Escucha. Me tomas en brazos, hundes la nariz en mi barriga, cierras los ojos y cuentas hasta nueve.
¡Y Pufff! Ya no hay monstruos. Habrán desaparecido.»
Roberto se acuesta y se acurruca contra Tedy, cerrando los ojos. Empieza a contar lentamente… seis… siete… ocho… nueve…
Entreabre un ojo, y…
«Bien, esto funciona», le susurra a Tedy al oído.
«Evidentemente. Siempre funciona. ¡Anda! Ahora dormimos.»
Mireille d’Allancé
Cuando tenía miedo de la oscuridad
Barcelona, Corimbo, 2002
EL ÁRBOL GENEROSO

Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño.
Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque.
Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas.
Y ambos jugaban al escondite.
Y, cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra y el niño amaba al árbol … mucho.
Y el árbol era feliz.
Pero el tempo pasó. Y el niño creció. Y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día, el árbol vio venir a su niño y le dijo:
"Ven, Niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz".
"Ya soy muy grande para trepar y jugar," dijo él. "Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?"
"Lo siento", dijo el árbol, pero yo no tengo dinero. Sólo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz.
Y, así, él se subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó.
Y el árbol se sintió feliz.
Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía… y el árbol estaba triste. Y entonces, un día, regresó y el árbol se agitó alegremente y le dijo, "Ven, Niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y sé feliz".
"Estoy muy ocupado para trepar árboles," dijo él.
"Necesito una casa que me sirva de abrigo". "Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes tú dármela?"
"Yo no tengo casa", dijo el árbol, “El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz.
Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa.
Y el árbol se sintió feliz.
Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía.
Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar.
"Ven, Niño" susurró. “Ven y juega".
"Estoy muy viejo y triste para jugar”, dijo él. "Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?"
"Corta mi tronco y hazte un bote", dijo el árbol. "Entonces podrás navegar lejos… y serás feliz".
Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos.
Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque.
Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas.
Y ambos jugaban al escondite.
Y, cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra y el niño amaba al árbol … mucho.
Y el árbol era feliz.
Pero el tempo pasó. Y el niño creció. Y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día, el árbol vio venir a su niño y le dijo:
"Ven, Niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz".
"Ya soy muy grande para trepar y jugar," dijo él. "Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?"
"Lo siento", dijo el árbol, pero yo no tengo dinero. Sólo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz.
Y, así, él se subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó.
Y el árbol se sintió feliz.
Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía… y el árbol estaba triste. Y entonces, un día, regresó y el árbol se agitó alegremente y le dijo, "Ven, Niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y sé feliz".
"Estoy muy ocupado para trepar árboles," dijo él.
"Necesito una casa que me sirva de abrigo". "Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes tú dármela?"
"Yo no tengo casa", dijo el árbol, “El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz.
Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa.
Y el árbol se sintió feliz.
Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía.
Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar.
"Ven, Niño" susurró. “Ven y juega".
"Estoy muy viejo y triste para jugar”, dijo él. "Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?"
"Corta mi tronco y hazte un bote", dijo el árbol. "Entonces podrás navegar lejos… y serás feliz".
Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos.
Y el árbol se sintió feliz… pero no realmente.
Y después de mucho tiempo su niño volvió nuevamente.
“Lo siento, Niño”, dijo el árbol, "pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas".
"Mis dientes son muy débiles para comer manzanas", le contestó.
"Ya no me quedan ramas" dijo el árbol. "Tú ya no puedes mecerte en ellas-"
"Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas", respondió él.
"Ya no tengo tronco" dijo el árbol. "Tú ya no puedes trepar-"
"Estoy muy cansado para trepar" le contestó.
"Lo siento" se lamentó el árbol "Quisiera poder darte algo… pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tocón. Lo siento…
"Yo no necesito mucho ahora," contestó él, "solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado."
"Bien", dijo el árbol reanimándose, "un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, Niño, siéntate. Siéntate y descansa".
Y él se sentó … y el árbol fue feliz.
Shel Silverstein (1997).
El árbol generoso .
Caracas:
Litexas Venezolana.
Litexas Venezolana.
URL da imagem: http://www.baixaki.com.br/usuarios
/imagens/wpapers/431542-3610-1280.jpg
/imagens/wpapers/431542-3610-1280.jpg
EL PAÍS DEL GRIS
Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, hubo un país donde todo era gris: el cielo, el sol, los árboles, las casas... y la gente.
Al igual que todos los habitantes de aquel particular país, la vendedora de frutas y verduras carecía de imaginación, por eso no podía pensar en cómo sería su mercadería si tuviera color.
El amarillo, tan amarillo, de un limón.
El verde, tan verde, de la lechuga.
El morado, muy morado, de las moras maduras.
El rojo, tan rojo, de las fresas.
Tampoco el vendedor de pescados tenía imaginación, por eso le parecía imposible que en algún lugar del mundo hubiera peces azules, rojos, verdes o malvas.
En aquel país tan gris, las madres grises leían cuentos grises a sus hijos grises. Las páginas de esos cuentos mostraban niños grises con el pelo y los ojos grises, con la ropa gris. Las hadas eran grises y también las
mariposas, las flores y las gallinas.
Los abuelos, los muy abuelos, recordaban haber visto en su niñez libros que contenían dibujos alegres y llenos de color, donde los niños tenían el pelo castaño o rojo o dorado como el trigo. Pero sus nietos grises no les creían ni una palabra. Decían que eran cuentos de viejos.
El País del Gris era aburrido, muy aburrido, donde todos bostezaban a todas horas. Y las horas pasaban lentas y grises.
Pero, un día, una niña se cansó de bostezar y aburrirse e intentó imaginar los colores. Pensó y pensó. Con sus ojos grises abiertos y con sus ojos grises cerrados. Durante el día gris y la noche más gris, aún. En el verano gris y durante el gris invierno. En la gris primavera y en el aburrido otoño gris.
Por mucho tiempo, nada ocurrió. Todo siguió igual.
♣♣♣
Pero un día, recordó lo que sus grises abuelos siempre contaban sobre antiguos libros con colores. Durante días, imaginó los cabellos rubios de los niños que vivían en esos libros. Mientras lo hacía, hundía sus deditos en la mata gris y espesa de sus propios cabellos. Y una tarde, su pelo, repentinamente, se volvió dorado como el trigo. Imaginó el mar y sus ojos se volvieron azules. Imaginó fresas rojas y sus labios se volvieron rojos. Pensó en sus ropas grises y las imaginó rojas, verdes, turquesas, amarillas y sus vestidos volaron con colores nuevos.
Entonces, salió a las calles de su gris ciudad y llamó a los demás niños grises. Les habló de aquello tan maravilloso y les enseñó a imaginar un mundo distinto. Y, así, cientos de niños grises corrieron por aceras y parques, por campos y colinas y, sólo con el poder de su imaginación, los tiñeron de rojo y azul, de verde y malva, de amarillo y anaranjado.
En los valles surgieron mil matices, el mar se inundó de azules, los árboles brotaron en verdes y amarillos y un sol dorado iluminó, por primera vez, hermosas flores carmesíes. El aire se llenó de alegría y los pájaros volaron con alas multicolores sobre un cielo azul recién estrenado. Flores y mariposas desbordaron patios y balcones y pusieron, sobre los tejados, un techo infinito de color.
Y así, gracias a la imaginación de los niños, el País del Gris perdió su tristeza y, a partir de entonces, todos lo conocen como El País del Color.
Marta Rivera Ferner
El país del gris
Valencia, Brosquil Ediciones, 2008
El PRÍNCIPE QUE PERDIÓ LA MEMORIA

Se cuenta que había una vez un reino en un lugar de la Tierra que muy pocos conocían y al que era muy difícil llegar ya que se encontraba en la cima de una montaña muy alta, la más alta de todas las montañas. Cierto día el rey llamó a uno de sus hijos y le dijo:
—Hijo, siguiendo la tradición de nuestro reino tienes que emprender una misión muy importante. Es una prueba de valor que todos los príncipes deben llevar a cabo al cumplir tu edad, con el fin de prepararte para ocupar mi trono algún día. Debes rescatar una maravillosa perla que está protegida por una peligrosa serpiente y oculta en una cueva que se encuentra en un país muy lejano. Allí tendrás que pasar desapercibido para que nadie se entere de tu misión y, para ello, cambiaras tu aspecto y tus ropas, te adaptarás a sus costumbres y aprenderás su lengua, pero, por favor, hijo mío, nunca olvides tu misión.
Prepararon al príncipe para el viaje y le facilitaron unos guías que lo acompañaron hasta los límites del lejano y desconocido país. Una vez allí, lo dejaron solo.
Cuando caminaba por un sendero que parecía conducir a un pueblo se encontró con otras personas que, tomándole por un viajero más, le dieron conversación y compartieron su comida. La gente del país le acogió generosamente, le ofreció trabajo, casa y comida, y, poco a poco, el príncipe se olvidó de cuál era la misión que allí le había conducido. Se acostumbró al país, aprendió su lengua y costumbres y se vistió igual que los demás.
Su padre, preocupado al no tener noticias de su hijo, envió en secreto mensajeros que, a su vuelta, le informaron de su triste situación: estaba tan adaptado a las costumbres de aquel pueblo y se sentía tan a gusto que había olvidado quién era y cuál era el objetivo de su viaje.
Juntos planearon enviar un ave mensajera que susurrara al oído del joven príncipe un mensaje que le ayudara a recordar. Una noche, estaba el príncipe durmiendo cuando, sobresaltado, despertó al oír a alguien que susurraba en sus oídos las siguientes palabras:
«Despierta, despierta, joven príncipe, recuerda quién eres y cuál es la misión que te fue encomendada».
Al abrir los ojos solo pudo ver un ave que alzaba el vuelo, pero al instante recobró la memoria y se dio cuenta de que había llegado hasta allí con la misión de rescatar la perla maravillosa.
El joven príncipe dudó de su valor para enfrentarse a la terrible serpiente que la custodiaba hasta que se dio cuenta de que era hijo del rey y, a partir de ese momento, se sintió fuerte y seguro. Con decisión se dirigió a la cueva donde vivía la gran serpiente y, por medio de unos encantamientos y sonidos que había aprendido en su reino, consiguió que se durmiera y así pudo rescatar la maravillosa perla.
Entonces se despojó de las vestiduras propias de aquel lugar sintiendo que no eran las que le correspondían e intentó vestirse con sus ropas de príncipe, pero en ese momento se dio cuenta de que la ropa le quedaba pequeña porque había crecido mucho en ese tiempo.
Emprendió el viaje de regreso a su país muy contento por haber cumplido la misión que le habían encomendado.
Su padre y toda la corte salieron a recibirle con gran alegría ofreciéndole nuevas vestiduras propias de un príncipe y acordes con su estatura, pues a la vista de todos estaba lo que había crecido durante su viaje a tierras lejanas.
En la corte recibió la felicitación por haber rescatado la maravillosa perla y haber superado la prueba, y sintieron que el príncipe que regresaba era muy diferente del que había partido, no solo por su aspecto externo sino también en su interior.
Y, según cuenta la historia, cuando llegó el momento de ocupar el trono y gobernar lo hizo con gran sabiduría y nobleza.
Este cuento está basado en El canto de la perla, narración que procede de un apócrifo del siglo III llamado Los actos de Tomás, que forma parte de la Biblioteca de Nag Hammadi.
—Hijo, siguiendo la tradición de nuestro reino tienes que emprender una misión muy importante. Es una prueba de valor que todos los príncipes deben llevar a cabo al cumplir tu edad, con el fin de prepararte para ocupar mi trono algún día. Debes rescatar una maravillosa perla que está protegida por una peligrosa serpiente y oculta en una cueva que se encuentra en un país muy lejano. Allí tendrás que pasar desapercibido para que nadie se entere de tu misión y, para ello, cambiaras tu aspecto y tus ropas, te adaptarás a sus costumbres y aprenderás su lengua, pero, por favor, hijo mío, nunca olvides tu misión.
Prepararon al príncipe para el viaje y le facilitaron unos guías que lo acompañaron hasta los límites del lejano y desconocido país. Una vez allí, lo dejaron solo.
Cuando caminaba por un sendero que parecía conducir a un pueblo se encontró con otras personas que, tomándole por un viajero más, le dieron conversación y compartieron su comida. La gente del país le acogió generosamente, le ofreció trabajo, casa y comida, y, poco a poco, el príncipe se olvidó de cuál era la misión que allí le había conducido. Se acostumbró al país, aprendió su lengua y costumbres y se vistió igual que los demás.
Su padre, preocupado al no tener noticias de su hijo, envió en secreto mensajeros que, a su vuelta, le informaron de su triste situación: estaba tan adaptado a las costumbres de aquel pueblo y se sentía tan a gusto que había olvidado quién era y cuál era el objetivo de su viaje.
Juntos planearon enviar un ave mensajera que susurrara al oído del joven príncipe un mensaje que le ayudara a recordar. Una noche, estaba el príncipe durmiendo cuando, sobresaltado, despertó al oír a alguien que susurraba en sus oídos las siguientes palabras:
«Despierta, despierta, joven príncipe, recuerda quién eres y cuál es la misión que te fue encomendada».
Al abrir los ojos solo pudo ver un ave que alzaba el vuelo, pero al instante recobró la memoria y se dio cuenta de que había llegado hasta allí con la misión de rescatar la perla maravillosa.
El joven príncipe dudó de su valor para enfrentarse a la terrible serpiente que la custodiaba hasta que se dio cuenta de que era hijo del rey y, a partir de ese momento, se sintió fuerte y seguro. Con decisión se dirigió a la cueva donde vivía la gran serpiente y, por medio de unos encantamientos y sonidos que había aprendido en su reino, consiguió que se durmiera y así pudo rescatar la maravillosa perla.
Entonces se despojó de las vestiduras propias de aquel lugar sintiendo que no eran las que le correspondían e intentó vestirse con sus ropas de príncipe, pero en ese momento se dio cuenta de que la ropa le quedaba pequeña porque había crecido mucho en ese tiempo.
Emprendió el viaje de regreso a su país muy contento por haber cumplido la misión que le habían encomendado.
Su padre y toda la corte salieron a recibirle con gran alegría ofreciéndole nuevas vestiduras propias de un príncipe y acordes con su estatura, pues a la vista de todos estaba lo que había crecido durante su viaje a tierras lejanas.
En la corte recibió la felicitación por haber rescatado la maravillosa perla y haber superado la prueba, y sintieron que el príncipe que regresaba era muy diferente del que había partido, no solo por su aspecto externo sino también en su interior.
Y, según cuenta la historia, cuando llegó el momento de ocupar el trono y gobernar lo hizo con gran sabiduría y nobleza.
Este cuento está basado en El canto de la perla, narración que procede de un apócrifo del siglo III llamado Los actos de Tomás, que forma parte de la Biblioteca de Nag Hammadi.
Begoña Ibarrola
Cuentos para sentir: Educar las emociones
Madrid, SM, 2003
PARA MÍ NO HAY EXTRAÑOS
Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era una niñita, mi abuelo me llevó con él en una de las visitas semanales que hacía a su quinta de manzanos.
–Es el último terreno que conservo después de haberme mudado a la ciudad -me decía mientras saludaba amablemente a todos con quienes se cruzaba.
–Abuelito -yo lo llamaba y corría para no quedarme atrás.- ¿Cómo es que conoces a tanta gente?
Él se detuvo para que lo alcanzara.
–No los conozco por el nombre, sino por el corazón, querida… ¡Para mí no hay extraños!
–¿Por qué, abuelito? -le pregunté cogiendo su mano sin largarla.
Me sonrió con alegría y respondió:
–Porque mi corazón y yo somos libres.
Después de caminar otro rato, me preguntó:
–¿Sabías, querida, que en los terribles tiempos de la esclavitud yo solía llevar semillas de manzana en los bolsillos y creía que, cuando llegara el gran día en que fuéramos libres, podría plantarlas en mi propio huerto? -sacudí la cabeza: no, no sabía. El abuelo continuó.- Hasta que un día por fin me di cuenta de que nada de eso sería posible si no nos libertábamos nosotros mismos. Entonces esperamos… y a la primera oportunidad, ¡nos escapamos!
–¿Quiénes os escapasteis, abuelito?
–Conmigo estaban tu abuela Polly y tu mamá, que en ese entonces era un bebé -me respondió el abuelo acariciándome los rizos.- Teníamos miedo, pero salimos con cuidado, muy callados, de puntillas.
Ensimismado en sus recuerdos, se interrumpió por un momento y luego prosiguió:
–Ya habíamos andado mucho hacia el norte, evitando los peligros y los encuentros con extraños. Faltaba poco para llegar al Río Ohio, ¡y a la libertad! Pero como estábamos tan cansados y teníamos tanta hambre, ya no podíamos dar un paso más, y nos metimos en un establo para pasar la noche. Dormimos sin hacer ningún ruido, hasta el bebé estuvo calladita.
Pero al amanecer entró un hombre para ordeñar las vacas… ¡y justo en ese momento el bebé empezó a llorar! Nos quedamos allí, en la oscuridad, abrazando a nuestro bebé con hambre.
Estábamos tan desesperados que hubiésemos corrido y cruzado el río a nado para ser libres. Y si había que morir, moríamos, ¡pero no volvíamos atrás!
–¡Ay, no! -exclamé temblando, aunque sabía que mi abuelo estaba a salvo aquí conmigo. Apreté su mano.
–A pesar de la oscuridad -siguió el abuelo-, el hombre sentía que allí había alguien.
¿Pero adivina qué pasó? -lo miré, todavía preocupada.- No se fijó en el color, sólo vio que estábamos en apuros. Él era blanco, pero igual nos ayudó. Nunca preguntó mi nombre, aunque me dijo el suyo: James Stanton. Era un miembro del Ferrocarril Subterráneo.
–¡Ya sé! Eran esas personas que ayudaban a los esclavos fugitivos a llegar al norte, ¿no?
–Ajá. Esa gente nos ayudó cuando más nos hacía falta. A Sarah, la mujer de James Stanton, no le importó si el bebé era blanco o negro. Ellos vieron sólo una niñita con hambre.
Nos dieron de comer y la noche siguiente nos ayudaron a cruzar el río hacia la libertad.
–¡Tuvisteis mucha suerte, abuelito! -le dije ya más tranquila, con mi mano aún en la suya.
–No sé si fue suerte, querida. Teníamos que confiar en Dios. Tomamos la decisión
correcta y tuvimos ayuda cuando la necesitábamos. Y salimos adelante. Sí, salimos adelante… - y añadió,- Sé lo que se siente cuando necesitamos ayuda y cuando la conseguimos. Por eso, ¿qué clase de hombre sería ahora si me negara a ayudar a un extraño y lo dejara en el lugar donde cayó?
Caminábamos en silencio. El aire primaveral nos traía el aroma dulce y fresco de los manzanos en flor.
–Cuando llegamos al norte -prosiguió el abuelo apretando el paso-, Polly y yo trabajamos duro para quien nos quisiera contratar: fuimos herreros, labradores, recolectores de fruta, ordeñamos vacas, cocimos pan… hasta que pudimos juntar lo suficiente para comprarnos nuestra propia tierra: esta.
Radiante de orgullo, el abuelo me mostraba los manzanos que coloreaban el aire con sus flores rosadas.
–¿Recuerdas las semillas que llevaba en los bolsillos? Pues las planté en mi propio huerto. Y cada vez que plantaba una, pensaba en alguien que nos había ayudado a llegar aquí. Y ahora las veo florecer.
El abuelo sacó una manzana de cada bolsillo.
–¿Son de de las nuestras, abuelito?
–Sí. Las he guardado para que las comamos juntos.
Nos sentamos a comer las manzanas.
–¿Será que un día yo también podré plantar una semilla de recuerdos aquí? -pregunté.
–Lo puedes hacer ahora mismo -rió el abuelo, conmovido.
Me observó mientras yo plantaba en el huerto familiar las semillas de la manzana que había comido. Y me daba cuenta de que él también recordaba…
–No voy a olvidar lo que has hecho, querida -sonrió el abuelo mientras regresábamos.
Me llevé la mano al pecho:
–Yo no olvidaré lo que me has contado, abuelo, ¡nunca! -y sabía que era cierto.
–Ahora te darás cuenta por qué -hizo una pausa y saludó al cielo con la mano, el rostro inundado de alegría-, ¡para mí no hay extraños!
Ann Grifalconi; Jerry Pinkney
Ain’t nobody a stranger to me
New York, Hyperion Books for Children, 2007
HERMANO CIELO, HERMANA ÁGUILA – EL MENSAGE DEL JEFE SEATTLE
Palma de Mallorca, José J. de Olañeta Editor, 1993
En una época tan remota que casi todo su rastro se ha perdido en el polvo de la pradera, un antiguo pueblo vivía en esta tierra que hoy llamamos América. Vivió allí durante miles de años y sus descendientes se convirtieron en las grandes civilizaciones indias de los choctaw y cherokee, los navajos, los iroqueses y los sioux entre muchas otras. Pero llegó un momento en que los colonos blancos procedentes de Europa iniciaron una sangrienta guerra contra los indios y, en el tiempo que dura una vida, reclamaron para sí, y se la quedaron, toda la tierra de los indios, y a éstos les dejaron tan sólo pequeñas porciones de tierra donde vivir.
Cuando las últimas guerras indias estaban llegando a su fin, uno de los jefes más valientes y respetados de las Naciones del Noroeste, el Jefe Seattle, se sentó a una mesa con el hombre blanco para firmar un documento que le presentó el nuevo Comisario de Asuntos Indios del Territorio. El gobierno de los Estados Unidos deseaba comprar las tierras del pueblo del Jefe Seattle.
Con una presencia impresionante y unos ojos que reflejaban la grandeza del alma que habitaba en su interior, el Jefe se levanto para dirigir con voz retumbante unas palabras a los reunidos.
¿Acaso podéis comprar el cielo?, empezó el Jefe Seattle ¿Acaso podéis poseer la lluvia y el viento?
Mi madre me dijo que toda esta tierra es sagrada para nuestro pueblo.
Cada aguja de pino. Cada playa arenosa.
Cada niebla en los bosques oscuros.
Cada prado y cada insecto zumbador.
Todos son sagrados en la memoria de nuestro pueblo.
Mi padre me dijo:
Conozco la savia que corre por los árboles como conozco la sangre que fluye por mis venas. Somos una parte de la tierra y ella es parte de nosotros Las flores perfumadas son nuestras hermanas.
El oso, el ciervo, la gran águila... ellos son nuestros hermanos.
Las cumbres rocosas, las praderas, los caballos – todos pertenecen a la misma familia.
La voz de mis antepasados me dijo:
El agua resplandeciente que corre por torrentes y ríos no es simplemente agua, sino la sangre del abuelo de tu abuelo.
Cada reflejo espectral de las claras aguas de los lagos nos habla de recuerdos de la vida de nuestro pueblo.
El murmullo del agua es la voz de la abuela de tu abuela.
Los ríos son nuestros hermanos. Apagan nuestra sed. Transportan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos.
Debéis tener para con los ríos la bondad que tendríais para con un hermano.
La voz de mi abuelo me dijo:
El aire es precioso. Comparte su espíritu con toda la vida que él sostiene. El viento que me dio mi primer aliento también recibió mi último suspiro.
Debéis dejar en paz a la tierra y el aire, para que sigan siendo sagrados y el hombre pueda gozar del viento perfumado por las flores de la pradera.
Cuando el último hombre rojo y la última mujer roja hayan desaparecido con su naturaleza salvaje y su recuerdo no sea más que la sombra de una nube que atraviesa la pradera, ¿existirán aún las playas y los bosques? ¿Quedará algo del espíritu de mi abuelo?
Mis antepasados me han dicho: Esto es lo que sabemos: La tierra no nos pertenece.
Nosotros pertenecemos a la tierra.
La voz de mi abuela me dijo:
Enseña a tus hijos lo que te han enseñado.
La tierra es nuestra madre.
Lo que le sucede a la tierra les sucede a todos los hijos de la tierra.
Escuchad mi voz y la voz de mis antepasados, dijo el Jefe Seattle.
El destino de vuestro pueblo es un misterio para nosotros.
¿Qué ocurrirá cuando todos los bisontes hayan muerto y los caballos salvajes estén domesticados?
¿Qué ocurrirá cuando los rincones más secretos del bosque estén llenos del olor de muchos hombres?
¿Qué ocurrirá cuando la visión de las hermosas colinas esté empañada por la
presencia de múltiples cables parlantes?
¿Dónde estará el bosque espeso? Desaparecido.
¿Dónde estará el águila? ¡Desaparecida!
¿Y qué ocurrirá cuando digamos adiós al rápido potro y a la cacería?
Será el final de la vida y el principio de la supervivencia.
Esto es lo que sabemos: todas las cosas están relacionadas como la sangre que nos une. Nosotros no hemos tejido la red de la vida, no somos más que un hilo de ella.
Todo lo que hacemos a esta red, nos lo hacemos a nosotros mismos.
Amamos esta tierra como un recién nacido ama el latido del corazón de su madre.
Si os vendemos nuestra tierra, cuidadla como nosotros la hemos cuidado.
Guardad en la memoria el recuerdo de la tierra tal como era cuando la recibisteis.
Conservad la tierra, el aire y los ríos para los hijos de vuestros hijos, y amadla como nosotros la hemos amado.
Los orígenes de las palabras del Jefe Seattle están en parte oscurecidos por las brumas del tiempo Unos dicen que eran una carta, y otros un discurso. Lo que se sabe es que Seatle era un jefe respetado y pacífico de una de las naciones indias del noroeste de los Estados Unidos. A mediados de la década de 1850, cuando el gobierno norteamericano quiso comprar las tierras de su pueblo, agotado y derrotado, Seattle respondió en su lengua nativa, con una elocuencia natural que surgía de su tradición oral.
Sus palabras fueron transcritas por el Dr. Henry A. Smith, que le conocía bien, y esta transcripción ha sido interpretada y reescrita más de una vez en nuestro siglo. Yo también he adaptado el mensaje del Jefe Seattle para este libro. Lo importante es que las palabras del Jefe Seattle transmitían –y siguen transmitiendo– un mensaje lleno de verdad y de exigencia: en nuestra ansia de construir y poseer, podemos perder todo cuanto
tenemos.
Hemos tardado mucho en tener conciencia de la necesidad de conservar el entorno natural, pero hace más de un siglo muchos grandes jefes de los indios americanos –entre ellos Alce Negro, Nube Roja y Seattle– ya lanzaron un mensaje resonante al respecto.
Para todos los nativos de América, todo ser y toda parte de la tierra eran sagrados; creían que dilapidar o destruir la naturaleza y sus maravillas era destruir la vida misma. Sus palabras no se comprendieron en su tiempo. Y ahora nos persiguen. Ahora se han hecho realidad, y antes de que sea demasiado tarde debemos escuchar.
Susan Jeffers
ZIBA VINO EN UN BARCO

Para nuestros amigos afganos,
que nos han dado una visión de una vida diferente,
y que nos inspiran con su valentía y determinación.
Ziba vino en un barco. Un viejo y abarrotado barco pesquero que crujía y gemía mientras se levaba y caía, se elevaba y caía, surcando un mar sin fin…
Los pensamientos en el hogar inundaban a Ziba, de igual modo que las olas inundaban la cubierta.
Oía risas de niños y el amable balido de las ovejas que pastaban al borde de la colina.
Sentía en sus mejillas el frío aire de la montaña, mientras corría con sus primas por la orilla rocosa para recoger agua del arroyo.
Reían salpicándose unas a otras con el agua helada, y llevaban las pesadas vasijas de barro al calor de la casa de adobe.
Ziba percibía el aroma de las ricas especias de la comida de la tarde.
Ayudaba a sus tías a preparar el pan cocinado en el tandur y probaba la textura fresca y suave del yogur de leche de cabra que su madre había hecho.
Veía a su madre, sentada ante el telar de madera, tejiendo lana de colores para una alfombra.
La lana subía y bajaba, dentro y fuera, como el barco que se balanceaba en medio del tenebroso mar.
El bote iba a la deriva en medio de la noche, y los pensamientos de Ziba iban a la deriva también.
En su imaginación, estaba sentada con su padre y jugaba con la muñeca que él le había dado.
Él le contaba historias y le recitaba poemas de hacía mucho tiempo. Ziba sentía la fuerza de los brazos de su padre y miraba fijamente su apacible rostro.
Un viento fresco sopló desde el tempestuoso mar.
Ziba recordó las frías noches de invierno en su hogar.
Ese año, el invierno había sido mucho más largo y la sombra proyectada por las montañas del este parecía inclinarse más cerca que nunca. La oscuridad se extendía filtrándose por las silenciosas esquinas de la tranquila aldea.
Como no podía ir a la escuela, Ziba se escondía del mundo tras los gruesos muros de su casa de adobe.
El mar rugía y golpeaba contra el bote como una bestia enfurecida. Las olas se
Ziba temblaba y se estrechó contra su madre en la amontonada cubierta. Los ojos de su madre estaban llenos de esperanza y sus cánticos sonaban
dulces como la miel.
Ziba se dejó llevar por un sueño.
Un sueño cálido y acogedor. Caras sonrientes le daban la bienvenida a su nueva tierra. Aquí, podría vivir sin miedo. Aquí, podría ser libre y aprender a reír y bailar de nuevo.
‘Azadi’, susurró su madre. ‘Libertad’.
Y el barco se elevaba y caía, se elevaba y caía surcando un mar sin fin…
Oía risas de niños y el amable balido de las ovejas que pastaban al borde de la colina.
Sentía en sus mejillas el frío aire de la montaña, mientras corría con sus primas por la orilla rocosa para recoger agua del arroyo.
Reían salpicándose unas a otras con el agua helada, y llevaban las pesadas vasijas de barro al calor de la casa de adobe.
Ziba percibía el aroma de las ricas especias de la comida de la tarde.
Ayudaba a sus tías a preparar el pan cocinado en el tandur y probaba la textura fresca y suave del yogur de leche de cabra que su madre había hecho.
Veía a su madre, sentada ante el telar de madera, tejiendo lana de colores para una alfombra.
La lana subía y bajaba, dentro y fuera, como el barco que se balanceaba en medio del tenebroso mar.
El bote iba a la deriva en medio de la noche, y los pensamientos de Ziba iban a la deriva también.
En su imaginación, estaba sentada con su padre y jugaba con la muñeca que él le había dado.
Él le contaba historias y le recitaba poemas de hacía mucho tiempo. Ziba sentía la fuerza de los brazos de su padre y miraba fijamente su apacible rostro.
Un viento fresco sopló desde el tempestuoso mar.
Ziba recordó las frías noches de invierno en su hogar.
Ese año, el invierno había sido mucho más largo y la sombra proyectada por las montañas del este parecía inclinarse más cerca que nunca. La oscuridad se extendía filtrándose por las silenciosas esquinas de la tranquila aldea.
Como no podía ir a la escuela, Ziba se escondía del mundo tras los gruesos muros de su casa de adobe.
El mar rugía y golpeaba contra el bote como una bestia enfurecida. Las olas se
embravecían y los pensamientos de Ziba se volvían más tristes y temerosos.
El eco de las armas de fuego resonaba en la aldea. Voces coléricas la cercaban. Agarrada a la mano de su madre, Ziba corrió y corrió a través de la noche, alejándose de la locura hasta donde sólo había oscuridad y silencio.Ziba temblaba y se estrechó contra su madre en la amontonada cubierta. Los ojos de su madre estaban llenos de esperanza y sus cánticos sonaban
dulces como la miel.
Ziba se dejó llevar por un sueño.
Un sueño cálido y acogedor. Caras sonrientes le daban la bienvenida a su nueva tierra. Aquí, podría vivir sin miedo. Aquí, podría ser libre y aprender a reír y bailar de nuevo.
‘Azadi’, susurró su madre. ‘Libertad’.
Y el barco se elevaba y caía, se elevaba y caía surcando un mar sin fin…
Liz Lofthouse
Ziba vino en un barco
Salamanca, Lóguez Ediciones, 2008
El bizcocho de canela

Aquella tarde la bruja hizo un bizcocho.
Llovía a mares y no podía salir.
La escoba descansaba en un rincón
el gato junto al fuego
el búho por ahí.
Su amiga del norte le había llevado huevos.
Su vecina, la maga, nata fresca.
Los gnomos, leche y harina de maíz,
ella tenía: azúcar, ron, canela.
Bate que bate
amasa y amasa
los huevos, la leche
la harina, la nata.
un poco de azúcar
y ron de piratas,
bate que bate
amasa y amasa.
El horno encendido
caliente muy caliente.
Hansel y Gretel
temblando en la bodega.
La bruja adorna el bizcocho
y crece y crece la leyenda.
Aunque jamás había comido niños
ni fríos,
ni calientes,
ni en conserva,
no le importaba que los demás hablaran,
ni que la señalaran,
ni creyeran
que eran su plato favorito.
Niños crujientes, doraditos,
asados en el viejo horno de leña
y de postre el bizcocho recién
hecho espolvoreado con canela.
La bruja sonreía adivinando
que ellos no sabían que sólo
comía pan, dulces, verduras y
algunos días grosellas.
Afuera seguía lloviendo a mares.
La casa olía a bizcocho y leña seca.
Preparó chocolate
muy caliente,
sacó brillo a la escoba
y colocó la mesa,
Cuando la bruja los llamó
refunfuñando y les dijo que
estaba la merienda
Hansel y Gretel dieron
tales gritos
que tembló la casa,
la chimenea,
el gato despertó de su letargo
y la escoba despistada, hizo piruetas.
El búho apareció recién
duchado preguntando
si hacía falta su presencia
y el duende de la lluvia,
con el susto, pisoteó
catorce o quince setas.
¿No queréis merendar, pequeños monstruos?
Os moriréis de hambre en la bodega
si no subís ahora y coméis:
el chocolate
el bizcocho de canela
unos dulces que tengo muy recientes…
o quizás arándanos, grosellas.
La bruja en el fondo no era mala,
pero la lluvia la ponía
enferma.
Las escobas se mojan y encogen
y así no duran nada…
¡Qué tristeza, qué tristeza!
Tener que cambiar de escoba
siempre justo cuando empiezas a conocerla.
Bajó la escalera con cuidado.
Olía a ron, a lavanda,
a azúcar quemada y a canela.
Gretel le susurró a Hansel:
¡Qué raro!
no creo que las brujas
huelan de esa manera.
Después,
cuando el miedo se hubo ido
merendaron,
inventaron tres juegos,
recogieron la mesa…
Por fin había dejado de llover.
Olía a musgo,
a miel,
a pino,
a tierra.
La bruja dormitaba junto al fuego.
Nunca había parecido menos fiera.
Tenía sin duda muchos años
y un nombre tan extraño:
Griselda,
Griselda…
Y les dijo antes de despedirse que
el truco del bizcocho de canela
está en batir,
amasar bien y
que podían volver cuando quisieran.
Les haría chocolate,
buñuelos,
les haría bizcochos
tartas,
cremas...
pero que no tocaran nunca
las tejas de la casa
porque luego cuando llueve
hay goteras.
Charo Ruano
El bizcocho de canela
Salamanca, Amarú Ediciones, 2006





Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!